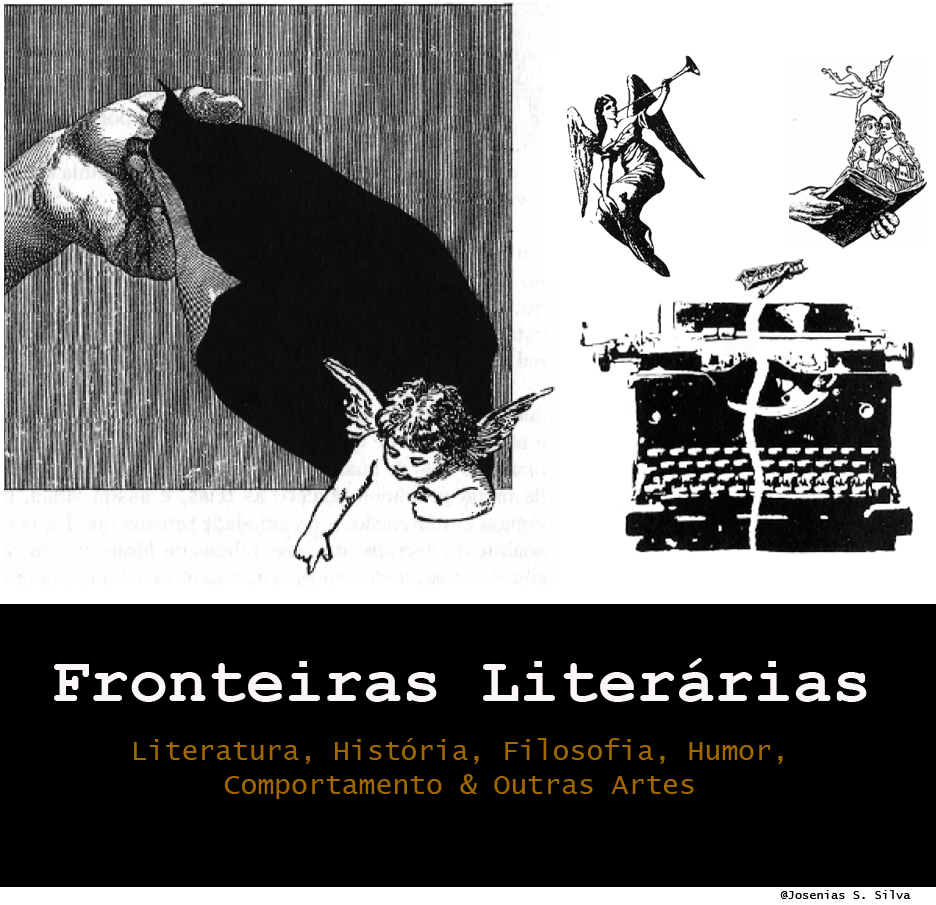Num
dia, há vida. Um homem, por exemplo, em perfeita saúde, nem sequer é velho, sem
nenhum histórico de doenças. Tudo é como era, e sempre será. Ele segue de um
dia para o outro, cuidando das suas coisas, sonhando apenas com a vida que se
estende à sua frente. E então, de repente, acontece que há morte. Um homem
solta um pequeno suspiro, tomba da cadeira, e é a morte. O inesperado da coisa
não deixa espaço para nenhum pensamento, não dá nenhuma chance para a mente
procurar uma palavra capaz de consolar. Somos deixados sem nada a não ser a
morte, o fato irredutível de nossa própria mortalidade. A morte após uma longa
doença é algo que poderíamos aceitar com alguma resignação. Mesmo a morte
acidental podemos atribuir ao destino. Mas um homem morrer sem nenhuma causa
aparente, um homem morrer apenas porque é um homem, nos leva para tão perto da
fronteira invisível entre a vida e a morte que não sabemos mais de que lado
estamos. A vida se transforma em morte e é como se essa morte tivesse possuído
essa vida o tempo todo. Morte sem aviso. Em outras palavras: a vida pára. E pode parar a qualquer momento.
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
Nos destinos da fronteira*
Noventa anos sem Lima Barreto*
No dia 1º de novembro de 1922 o Brasil perdia um dos
seus maiores escritores. Morria aos 41 anos de idade, na Rua Major Mascarenhas,
nº 46, no bairro de Todos os Santos, subúrbio do Rio de Janeiro, o romancista e
jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto. Coincidentemente, era dia de Todos
os Santos. Lima Barreto morreu na sua modesta residência, que ele tinha o
costume de chamar de “Vila Quilombo” para contrapor ao bairro de Copacabana.
Oriundo de uma família humilde, Lima Barreto nasceu
no dia 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Quando completou sete
anos, no ano de 1888, acompanhou atento as festividades em comemoração à
libertação dos escravos. Mal sabia ele que passaria por muitos reveses por
conta de sua cor, pois, como era mulato, muito cedo saberia que esta condição
seria a razão do preconceito que sofreria na sua trajetória.
Lima Barreto ingressou no
jornalismo profissional em 1905, no jornal Correio da Manhã, produzindo diversas
reportagens. Apesar da morte prematura, foi na literatura que o escritor deixou
a sua marca conhecida: o embate com os donos do poder. A estreia como escritor
ocorreu em 1909, com o livro As Recordações do Escrivão Isaias Caminha,
obra que denunciava o papel da grande imprensa na estrutura do poder e os
bastidores da redação de um grande jornal da época. O livro abordou o mundo das
notícias manipuladas, os elogios encomendados, as projeções dos falsos heróis e
as bajulações dos poderosos e revelou ainda o visível preconceito contra os
negros na sociedade brasileira.
“É triste não ser
branco”
Combativo em denunciar as mazelas sociais e o
racismo no país. Assim era Lima Barreto. Passados noventa anos de sua ausência,
muitos foram os avanços na luta contra a “engenhosa artimanha” do racismo
brasileiro que se mostra persistente, dissimulado, hipócrita e cínico,
adjetivos que o tornam, até os dias de hoje, difícil de ser combatido.
Apesar dos esforços da
grande imprensa, que tem atuado como tropa de choque na defesa do status
quo do grupo que
sempre se beneficiou com a marginalização e exclusão dos negros no processo de
distribuição da renda no país, o Estado brasileiro, reconhecendo que há racismo
de fato, vem implementando políticas de ações afirmativas voltadas,
particularmente, para a inclusão da população negra. Essas políticas, ainda que
tardias, visam a concluir um processo que se iniciou com o testemunho de Lima
Barreto em 13 de maio de 1888 e que só agora tem sua continuidade. Em 1888, o
Estado brasileiro não concedeu aos negros o direito à cidadania brasileira.
A negação dessa cidadania
encontra explicação no desabafo de Lima Barreto em seu Diário
íntimo: “É triste não ser branco.”
***
Júlio Ribeiro Xavier in. Observatório da Imprensa
domingo, 21 de outubro de 2012
Diário de uma mulher carente*
Lista
Original:
Eu quero um homem que...
1. Seja lindo,
2. Encantador,
3. Financeiramente estável,
4. Um bom ouvinte,
5. Divertido,
6. Em boa forma física,
7. Se vista bem,
8. Aprecie as coisas mais finas,
9. Faça muitas surpresas agradáveis,
10. Seja um amante criativo e romântico.
1. Seja lindo,
2. Encantador,
3. Financeiramente estável,
4. Um bom ouvinte,
5. Divertido,
6. Em boa forma física,
7. Se vista bem,
8. Aprecie as coisas mais finas,
9. Faça muitas surpresas agradáveis,
10. Seja um amante criativo e romântico.
Lista
Revisada aos 32 Anos
Eu quero um homem que...
1. Seja bonitinho,
2. Abra a porta do carro
3 Tenha dinheiro suficiente para jantar fora com certa frequência
4. Ouça mais do que fale,
5. Ria das minhas piadas,
6. Carregue as sacolas do mercado com facilidade,
7. Tenha no mínimo uma gravata,
8. Lembre de aniversários e datas especiais,
9. Procure romance pelo menos uma vez por semana.
1. Seja bonitinho,
2. Abra a porta do carro
3 Tenha dinheiro suficiente para jantar fora com certa frequência
4. Ouça mais do que fale,
5. Ria das minhas piadas,
6. Carregue as sacolas do mercado com facilidade,
7. Tenha no mínimo uma gravata,
8. Lembre de aniversários e datas especiais,
9. Procure romance pelo menos uma vez por semana.
Lista
Revisada aos 42 Anos
Eu quero um homem que...
1. Não seja muito feio,
2. Espere eu me sentar no carro antes de começar a acelerar,
3. Tenha um emprego fixo
4. Balance a cabeça enquanto eu falo,
5. Esteja em forma ao menos para mudar a mobília de lugar,
6. Use camisetas que cubram sua barriga,
7. Não compre cidra achando que é champagne,
8. Se lembre de abaixar a tampa da privada
1. Não seja muito feio,
2. Espere eu me sentar no carro antes de começar a acelerar,
3. Tenha um emprego fixo
4. Balance a cabeça enquanto eu falo,
5. Esteja em forma ao menos para mudar a mobília de lugar,
6. Use camisetas que cubram sua barriga,
7. Não compre cidra achando que é champagne,
8. Se lembre de abaixar a tampa da privada
Lista
Revisada aos 52 Anos
Eu quero um homem que...
1. Corte os pelos do nariz e das orelhas,
2. Não coce o saco nem cuspa em público,
3. Não sustente as irmãs, nem as filhas do primeiro casamento
4. Não balance a cabeça até dormir enquanto eu estou reclamando,
5. Não conte a mesma piada o tempo todo.
1. Corte os pelos do nariz e das orelhas,
2. Não coce o saco nem cuspa em público,
3. Não sustente as irmãs, nem as filhas do primeiro casamento
4. Não balance a cabeça até dormir enquanto eu estou reclamando,
5. Não conte a mesma piada o tempo todo.
Lista
Revisada aos 62 Anos
Eu quero um homem que...
1. Não assuste as crianças pequenas,
2. Ronque bem baixinho quando dorme,
3. Esteja em forma suficiente para ficar de pé sozinho,
4. Use cueca e meias limpas
1. Não assuste as crianças pequenas,
2. Ronque bem baixinho quando dorme,
3. Esteja em forma suficiente para ficar de pé sozinho,
4. Use cueca e meias limpas
Lista
Revisada aos 72 Anos
Eu quero um homem que...
1. Respire,
2. Lembre onde deixou seus dentes
1. Respire,
2. Lembre onde deixou seus dentes
Lista
Revisada aos 88 Anos
Eu quero um homem que...
1. O que é um homem, mesmo?
1. O que é um homem, mesmo?
Como matar uma barata*
1 - Um pouco de sal.
2 - Uma
tampa de garrafa
3 - Um pouco
de cachaça
4 - Um
palito
5 - Uma
pedrinha
O esquema é
montado da seguinte maneira:
1) Coloque o sal no caminho das baratas;
2) Ponha a tampa de garrafa ao lado do sal:
3) Encha a tampa de garrafa com cachaça;
4) Ponha o palito próximo a tampa de garrafa e
perpendicular à direção axial da tampa; e
5) Ponha a pedrinha atrás do palito.
O processo é
simples:
- A barata vai ver o sal e comerá pensando que é
açúcar.
- Vai sentir sede e então vai tomar a cachaça
pensando que é água.
- Vai ficar bêbada e tropeçará no palito, e, por
fim, baterá a cabeça na pedra e morrerá de traumatismo craniano.
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
Só uma mulher sabe acabar uma história de amor*
Vejo aqui,
em reportagem de Isabela Barros para o UOL,
respeitáveis especialistas, gente da USP etc, tratando da dificuldade que o macho
tem para terminar as relações.
E ponha
dificuldade nisso. E bote enrolação e nove-horas.
É isso mesmo.
Homem é frouxo, só usa vírgula, no máximo um ponto e virgula; jamais um ponto
final.
Sim, o
amor acaba, como sentenciou a mais bela das crônicas de Paulo Mendes Campos:
“Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e
silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde
começou a pulsar…”
Acaba, mas só as
mulheres têm a coragem de pingar o ponto da caneta-tinteiro do amor. E pronto.
Às vezes com três exclamações, como nas manchetes sangrentas de antigamente.
Sem reticências…
Mesmo, em
algumas ocasiões, contra a vontade. Sábias, sabem que não faz sentido
prorrogação, os pênaltis, deixar o destino decidir na morte súbita.
O homem até cria
motivos a mais para que a mulher diga basta, chega, é o fim!!!
O macho pode até
sair para comprar cigarro na esquina e nunca mais voltar. E sair por ai dando
baforadas aflitas no king-size do abandono, no Continental sem filtro da
covardia e do desamor.
Mulher se acaba,
mas diz na lata, sem metáforas.
Melhor mesmo
para os dois lados, é que haja o maior barraco. Um quebra-quebra miserável,
celular contra a parede, controle remoto no teto, óculos na maré, acusações
mútuas, o diabo-a-quatro.
O amor, se é
amor, não se acaba de forma civilizada.
Nem no Crato…nem
na Suécia.
Se ama de
verdade, nem o mais frio dos esquimós consegue escrever o “the end” sem uma
quebradeira monstruosa.
Fim de amor sem
baixarias é o atestado, com reconhecimento de firma e carimbo do cartório, de
que o amor ali não mais estava.
O mais frio, o
mais “cool” dos ingleses estrebucha e fura o disco dos Smiths, I Am Human, sim,
demasiadamente humano esse barraco sem fim.
O que não pode é
sair por ai assobiando, camisa aberta, relax, chutando as tampinhas da
indiferença para dentro dos bueiros das calçadas e do tempo.
O fim do amor
exige uma viuvez, um luto, não pode simplesmente pular o muro do reino da
Carençolândia para exilar-se, com mala e cuia, com a primeira criatura ou com o
primeiro traste que aparece pela frente.
O Perigo de uma história única*
Eu sou uma contadora de histórias e
gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que eu gosto de
chamar “o perigo de uma história única”.
Eu cresci num campus universitário no
leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho
que 4 é provavelmente mais próximo da verdade.
Então, eu fui uma leitora precoce. E
o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma
escritora precoce. E quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos, histórias
com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu
escrevia exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens
eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve. Comiam maçãs. E eles
falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido.
Agora, apesar do fato que eu morava na Nigéria. Eu nunca havia estado fora da
Nigéria. Nós não tínhamos neve, nós comíamos mangas. E nós nunca falávamos
sobre o tempo porque não era necessário.
Meus personagens também bebiam muita
cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia
bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não tinha a mínima ideia do
que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois, eu desejei
desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é uma outra
história.
A meu ver, o que isso demonstra é
como nós somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história,
principalmente quando somos crianças. Porque tudo que eu havia lido eram livros
nos quais as personagens eram estrangeiras, eu convenci-me de que os livros,
por sua própria natureza, tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre
coisas com as quais eu não podia me identificar. Bem, as coisas mudaram quando
eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram
tão fáceis de encontrar quanto os livros estrangeiros,
Mas devido a escritores como Chinua
Achebe e Camara Laye eu passei por uma mudança mental em minha percepção da
literatura. Eu percebi que pessoas como eu, meninas com a pele da cor de
chocolate, cujos cabelos crespos não poderiam formar rabos-de-cavalo, também
podiam existir na literatura. Eu comecei a escrever sobre coisas que eu
reconhecia.
Bem, eu amava aqueles livros
americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me
abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que
pessoas como eu podiam existir na literatura. Então o que a descoberta dos
escritores africanos fez por mim foi: salvou-me de ter uma única história sobre
o que os livros são.
Eu venho de uma família nigeriana
convencional, de classe média. Meu pai era professor. Minha mãe,
administradora. Então nós tínhamos, como era normal, empregada doméstica, que
frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando eu fiz 8 anos,
arranjamos um novo menino para a casa. Seu nome era Fide. A única coisa que
minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre. Minha mãe
enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não
comia tudo no jantar, minha mãe dizia: “Termine sua comida! Você não sabe que
pessoas como a família de Fide não tem nada?” Então eu sentia uma enorme pena
da família de Fide.
Então, um sábado, nós fomos visitar a
sua aldeia e sua mãe nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia
seca por seu irmão. Eu fiquei atônita! Nunca havia pensado que alguém em sua
família pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre
eles era como eram pobres, assim havia se tornado impossível pra mim vê-los
como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única sobre
eles.
Anos mais tarde, pensei nisso quando
deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos.
Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu
tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por
acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia
ouvir o que ela chamou de minha “música tribal” e, consequentemente, ficou
muito desapontada quando eu toquei minha fita da Mariah Carey. (Risos) Ela
presumiu que eu não sabia como usar um fogão.
O que me impressionou foi que: ela
sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo,
como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha
colega de quarto tinha uma única história sobre a África. Uma única história de
catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade de os africanos serem
iguais a ela, de jeito nenhum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais
complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão como humanos
iguais.
Eu devo dizer que antes de ir para os
Estados Unidos, eu não me identificava, conscientemente, como uma africana. Mas
nos EUA, sempre que o tema África surgia, as pessoas recorriam a mim. Não
importava que eu não sabia nada sobre lugares como a Namíbia. Mas eu acabei por
abraçar essa nova identidade. E, de muitas maneiras, agora eu penso em mim
mesma como uma africana. Entretanto, ainda fico um pouco irritada quando
referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso
voo dos Lagos 2 dias atrás, não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o
trabalho de caridade na “Índia, África e outros países.” (Risos)
Então, após ter passado vários anos
nos EUA como uma africana, eu comecei a entender a reação de minha colega para
comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu conhecesse sobre
a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um
lugar de lindas paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis, lutando
guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles
mesmos, e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria
os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, havia visto a família de
Fide.
Eu acho que essa única história da
África vem da literatura ocidental. Então, aqui temos uma citação de um
mercador londrino chamado John Locke, que navegou até o oeste da África em 1561
e manteve um fascinante relato de sua viagem. Após referir-se aos negros
africanos como “bestas que não tem casas”, ele escreve: “Eles também são
pessoas sem cabeças, que têm sua boca e olhos em seus seios.”
Eu rio toda vez que leio isso, e
alguém deve admirar a imaginação de John Locke. Mas o que é importante sobre
sua escrita é que ela representa o início de uma tradição de contar histórias
africanas no Ocidente. Uma tradição da África subsaariana como um lugar
negativo, de diferenças, de escuridão, de pessoas que, nas palavras do
maravilhoso poeta, Rudyard Kipling, são “metade demônio, metade criança”.
E então eu comecei a perceber que minha
colega de quarto americana deve ter, por toda sua vida, visto e ouvido
diferentes versões de uma única história. Como um professor, que uma vez me
disse que meu romance não era “autenticamente africano”. Bem, eu estava
completamente disposta a afirmar que havia uma série de coisas erradas com o
romance, que ele havia falhado em vários lugares. Mas eu nunca teria imaginado
que ele havia falhado em alcançar alguma coisa chamada autenticidade africana.
Na verdade, eu não sabia o que era “autenticidade africana”. O professor me
disse que minhas personagens pareciam-se muito com ele, um homem educado de
classe média. Minhas personagens dirigiam carros, elas não estavam famintas.
Por isso elas não eram autenticamente africanos.
Mas eu devo rapidamente acrescentar
que eu também sou culpada na questão da única história. Alguns anos atrás, eu
visitei o México saindo dos EUA. O clima político nos EUA àquela época era
tenso. E havia debates sobre imigração. E, como frequentemente acontece na
América, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis
de mexicanos como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando
às escondidas pela fronteira, sendo presos na fronteira, esse tipo de coisa.
Eu me lembro de andar no meu primeiro
dia por Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no
supermercado, fumando, rindo. Eu me lembro que meu primeiro sentimento foi
surpesa. E então eu fiquei oprimida pela vergonha. Eu percebi que eu havia
estado tão imersa na cobertura da mída sobre os mexicanos que eles haviam se
tornado uma coisa em minha mente: o imigrante abjeto. Eu tinha assimilado a
única história sobre os mexicanos e eu não podia estar mais envergonhada de mim
mesma. Então, é assim que se cria umaúnica história: mostre um povo como uma
coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão.
É impossível falar sobre única
história sem falar sobre poder. Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que
eu lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder do mundo, e a palavra é
“nkali”. É um substantivo que livremente se traduz: “ser maior do que o outro.”
Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo
princípio do “nkali”. Como são contadas, quem as conta, quando e quantas
histórias são contadas, tudo realmente depende do poder.
Poder é a habilidade de não só contar
a história de uma outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela
pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que se você quer destituir
uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história, e começar com “em
segundo lugar”. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos, e
não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente.
Comece a história com o fracasso do estado africano e não com a criação
colonial do estado africano e você tem uma história totalmente diferente.
Recentemente, eu palestrei numa
universidade onde um estudante disse-me que era uma vergonha que homens
nigerianos fossem agressores físicos como a personagem do pai no meu romance.
Eu disse a ele que eu havia terminado de ler um romance chamado “Psicopata
Americano” – (Risos) – e que era uma grande pena que jovens americanos fossem
assassinos em série. (Risos) (Aplausos) É óbvio que eu disse isso num leve
ataque de irritação. (Risos)
Nunca havia me ocorrido pensar que só
porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era um assassino em
série, que isso era, de alguma forma, representativo de todos os americanos. E
agora, isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante, mas,
devido ao poder cultural e econômico da América, eu tinha muitas histórias
sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gaitskill. Eu não
tinha uma única história sobre a América.
Quando eu soube, alguns anos atrás,
que escritores deveriam ter tido infâncias realmente infelizes para ter
sucesso, eu comecei a pensar sobre como eu poderia inventar coisas horríveis
que meus pais teriam feito comigo. Mas a verdade é que eu tive uma infância
muito feliz, cheia de risos e amor, em uma família muito unida.
Mas também tive avós que morreram em
campos de refugiados. Meu primo Polle morreu porque não teve assistência médica
adequada. Um dos meus amigos mais próximos, Okoloma, morreu num acidente aéreo
porque nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Eu cresci sob governos
militares repressivos que desvalorizavam a educação, então, por vezes, meus
pais não recebiam seus salários. E então, ainda criança, eu vi a geleia
desaparecer do café-da-manhã, depois a margarina desapareceu, depois o pão
tornou-se muito caro, depois o leite ficou racionado. E acima de tudo, um tipo
de medo político normalizado invadiu nossas vidas.
Todas essas histórias fazem-me quem
eu sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha
experiência e negligenciar as muitas outras histórias que formaram-me. A única
história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam
mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem um história tornar-se a
única história.
Claro, África é um continente repleto
de catástrofes. Há as enormes, como as terríveis violações no Congo. E há as
depressivas, como o fato de 5.000 pessoas candidatarem-se a uma vaga de emprego
na Nigéria. Mas há outras histórias que não são sobre catástrofes. E é muito
importante, é igualmente importante, falar sobre elas.
Eu sempre achei que era impossível
relacionar-me adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem relacionar-me com
todas as histórias daquele lugar ou pessoa. A consequência de uma única
história é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de
nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza como nós somos diferentes ao
invés de como somos semelhantes.
E se antes de minha viagem ao México
eu tivesse acompanhado os debates sobre imigração de ambos os lados, dos
Estados Unidos e do México? E se minha mãe nos tivesse contado que a família de
Fide era pobre E trabalhadora? E se nós tivéssemos uma rede televisiva africana
que transmitisse diversas histórias africanas para todo o mundo? O que o
escritor nigeriano Chinua Achebe chama “um equilíbrio de histórias.”
E se minha colega de quarto soubesse
do meu editor nigeriano, Mukta Bakaray, um homem notável que deixou seu
trabalho em um banco para seguir seu sonho e começar uma editora? Bem, a
sabedoria popular era que nigerianos não gostam de literatura. Ele discordava.
Ele sentiu que pessoas que podiam ler, leriam se a literatura se tornasse
acessível e disponível para eles.
Logo após ele publicar meu primeiro
romance, eu fui a uma estação de TV em Lagos para uma entrevista. E uma mulher
que trabalhava lá como mensageira veio a mim e disse: “Eu realmente gostei do
seu romance, mas não gostei do final. Agora você tem que escrever uma
sequência, e isso é o que vai acontecer…” (Risos) E continuou a me dizer o que
escrever na sequência. Agora eu não estava apenas encantada, eu estava
comovida. Ali estava uma mulher, parte das massas comuns de nigerianos, que não
se supunham ser leitores. Ela não tinha só lido o livro, mas ela havia se
apossado dele e sentia-se no direito de me dizer o que escrever na sequência.
Agora, e se minha colega de quarto
soubesse de minha amiga Fumi Onda, uma mulher destemida que apresenta um show
de TV em Lagos, e que está determinada a contar as histórias que nós preferimos
esquecer? E se minha colega de quarto soubesse sobre a cirurgia cardíaca que
foi realizada no hospital de Lagos na semana passada? E se minha colega de
quarto soubesse sobre a música nigeriana contemporânea? Pessoas talentosas
cantando em inglês e Pidgin, e Igbo e Yoruba e Ijo, misturando influências de
Jay-Z a Fela, de Bob Marley a seus avós. E se minha colega de quarto soubesse
sobre a advogada que recentemente foi ao tribunal na Nigéria para desafiar uma
lei ridícula que exigia que as mulheres tivessem o consentimento de seus
maridos antes de renovarem seus passaportes? E se minha colega de quarto
soubesse sobre Nollywood, cheia de pessoas inovadoras fazendo filmes apesar de
grandes questões técnicas? Filmes tão populares que são realmente os melhores
exemplos de que nigerianos consomem o que produzem. E se minha colega de quarto
soubesse da minha maravilhosamente ambiciosa trançadora de cabelos, que acabou
de começar seu próprio negócio de vendas de extensões de cabelos? Ou sobre os
milhões de outros nigerianos que começam negócios e às vezes fracassam, mas
continuam a fomentar ambição?
Toda vez que estou em casa, sou
confrontada com as fontes comuns de irritação da maioria dos nigerianos: nossa
infraestrutura fracassada, nosso governo falho. Mas também pela incrível
resistência do povo que prospera apesar do governo, ao invés de devido a ele.
Eu ensino em workshops de escrita em Lagos todo verão. E é extraordinário pra
mim ver quantas pessoas se inscrevem, quantas pessoas estão ansiosas por
escrever, por contar histórias.
Meu editor nigeriano e eu começamos
uma ONG chamada Farafina Trust. E nós temos grandes sonhos de construir
bibliotecas e recuperar bibliotecas que já existem e fornecer livros para
escolas estaduais que não tem nada em suas bibliotecas, e também organizar
muitos e muitos workshops, de leitura e escrita para todas as pessoas que estão
ansiosas para contar nossas muitas histórias. Histórias importam. Muitas
histórias importam. Histórias tem sido usadas para expropriar e tornar malígno.
Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias
podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa
dignidade perdida.
A escritora americana Alice Walker
escreveu isso sobre seus parentes do sul que haviam se mudado para o norte. Ela
os apresentou a um livro sobre a vida sulista que eles tinham deixado para
trás. “Eles sentaram-se em volta, lendo o livro por si próprios, ouvindo-me ler
o livro e um tipo de paraíso foi reconquistado.” Eu gostaria de finalizar com
esse pensamento: Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos
que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo
de paraíso. Obrigada. [sic]
domingo, 14 de outubro de 2012
Por que a imagem da vagina provoca horror?*
Muitos anos atrás, não sei
precisar quantos, deparei-me com o quadro A origem do mundo (L’Origine
du Monde, 1866) e me encantei. Nele, o francês Gustave Courbet
pinta uma vagina. Cheguei a ela desavisada e fui tomada por uma sensação
profunda de beleza. Forte o suficiente para sonhar, deste então, com a compra
de uma reprodução, um plano sempre adiado. Quando passei a trabalhar em casa,
há dois anos, desejei ainda mais ter o quadro na parede do meu escritório, onde
reúno tudo aquilo que me apaixona em um pequeno universo perfeito e só meu. No
último aniversário, em maio, meu marido me deu a reprodução de presente. Só na
semana passada, porém, o quadro chegou da vidraçaria onde fez escala para
receber moldura. Então, algo inusitado aconteceu.
Ouvi um grito:
- É o fim do mundo!
Eu estava no quarto e saí correndo, alarmada, para ver o que tinha acontecido. Encontrei Emilia, a mulher que limpa nossa casa uma vez por semana, com o rosto tomado por um vermelho sanguíneo, diante de A origem do mundo, que, ainda sem lugar na parede, jazia encostado em um armário.
- É o fim do mundo! –
gritava ela, descontrolada. – Nunca pensei ver algo assim na minha vida!
Eliane, que coisa horrível!
Meio atordoada, eu repetia:
“Não é o fim do mundo, é o começo!”. E depois, sem saber mais o que fazer para
acalmá-la, me saí com essa estupidez: “É arte!”. Como se, por ser “arte”, ela
tivesse de ter uma reação mais controlada, quando é exatamente o oposto que se
espera. Beirando o desespero diante do desespero dela que eu não conseguia
aplacar, apelei: “Mas, Emilia, metade da humanidade tem vagina – e a humanidade
inteira saiu de uma vagina! Por que você acha feio?”.
O fato é que, para Emilia,
era o fim do mundo – e não o começo. Tentei fazer piada, mas percebi que a
perturbação não viraria graça. A questão para ela era séria – e ela só não
pedia demissão porque trabalha há 12 anos comigo e temos um vínculo forte.
Naquele dia, Emilia despediu-se incomodada e passei a temer que talvez ela não
suporte olhar para o quadro a cada quinta-feira.
Por que Emilia, uma mulher
adulta, que me conta histórias escabrosas da vida real, se horrorizou com a
visão de uma vagina? Por que eu me encantei com a visão de uma vagina? Quando
vivo uma experiência de transcendência, em geral eu não quero saber sobre a
história da pintura que a produziu, porque temo perder aquilo que é só meu, a
sensação única, pessoal e íntima que tive com aquela obra. É uma escolha
possivelmente besta, mas faz sentido para mim. Por isso, eu quase nada sabia
sobre “A origem do mundo”, para além do fato de que eu a adorava. Só no ano
passado, ao ler um pequeno livro sobre um dos grandes nomes da história da
psicanálise, o francês Jacques Lacan, soube que ele foi o último dono da pintura.
Nos anos 90, sua família doou o quadro para o Museu D’Orsay, em Paris, onde
está desde então.
Graças ao estranhamento de
Emilia, transtornada que foi pela experiência artística quando se preparava
para passar o pano no chão, fui levada a um percurso inesperado. Descobri que A
origem do mundo causa
escândalo desde que foi pintada. E agora quem está horrorizada sou eu, mas pela
ausência de horror em mim diante do quadro. Por quê? Por que eu não sinto
horror? O que há de errado comigo que não sinto horror?, cheguei a me
perguntar. De repente, nossas posições, a minha e a de Emilia diante do quadro,
inverteram-se. Eu, que não compreendia o horror dela, passei a suspeitar do meu
não horror.
Eis uma breve trajetória da
obra. A origem do mundo foi
encomendada a Courbet, um pintor do realismo, por um diplomata turco chamado
Khalil-Bey. Colecionador de imagens eróticas, ele pediu um nu feminino
retratado de forma crua. E Courbet lhe entregou um par de coxas abertas, de
onde despontava uma vagina após o ato sexual. A obra teria sido instalada no
luxuoso banheiro do milionário, atrás de uma cortina que só se abria para
revelar o proibido para uns poucos escolhidos. Khalil-Bey teria perdido a
pintura em uma dívida de jogo, momento em que a tela passa a viver uma série de
peripécias.
O quadro teve vários donos
e, ao que parece, todos o escondiam atrás de uma cortina ou de uma outra
pintura. Na II Guerra Mundial, algumas versões afirmam que chegou a ser
confiscado pelos nazistas do aristocrata húngaro ao qual pertencia. Em seguida,
passou uma temporada nas mãos do Exército Vermelho. Até que, após uma
acidentada jornada, em 1954 foi comprado por Lacan e instalado na sua famosa
casa de campo.
Até mesmo Lacan, um
personagem pródigo em excentricidades e sempre disposto a chocar as
suscetibilidades alheias, ocultava o quadro com uma outra pintura, encomendada
ao pintor surrealista André Masson com esse objetivo. Como uma porta de correr,
esse “véu” retratava uma vagina tão abstrata que só um olhar atento a
adivinhava. Apenas visitantes especiais ganhavam o direito de desvelar e
acessar a vagina “real”. Segundo Elisabeth Roudinesco, a biógrafa mais notória
de Lacan, o psicanalista gostava de surpreender os amigos deslocando o painel.
Anunciava então “A origem do mundo”, com a seguinte declaração: “O falo está
dentro do quadro”. Boa parte dos intelectuais apresentados à tela ficava, como
Emilia, bastante incomodada.
Por quê?
Que há algo perturbador no
órgão sexual feminino não há dúvida. Até nomeá-lo é um problema. Vagina, como
tenho usado aqui, parece excessivamente médico-científico. É como pegar a
língua com luvas cirúrgicas. Boceta ou xoxota ou afins soa vulgar e, conforme o
interlocutor, pejorativo. É a língua lambuzada pelo desejo sexual – e, por
consequência, também pela repressão. Não há distanciamento, muito menos
neutralidade possível nessa nomeação. É uma zona cinzenta, entregue a
turbulências, e a palavra torna-se ainda mais insuficiente para nomear o que
Courbet chamou de “A origem do mundo”. Para Lacan, “o sexo da mulher é
impossível de representar, dizer e nomear” – uma das razões pelas quais teria
comprado o quadro.
Em busca de respostas para o horror de Emilia, que, por oposição, revela o meu não horror, naveguei por algumas interpretações do quadro – e da perturbação gerada por ele. Jorge Coli, historiador, crítico de arte e autor de um livro sobre Courbet para a editora francesa Hazon, assim comentou sobre A origem do Mundo, em um artigo publicado em 2007: “Parece-me a radicalização do processo de transformar a mulher em um objeto orgânico, pois ele esconde a cabeça (pensante) e os braços e pernas (elementos da ação). Vemos a ponta do seio e, sobretudo, o sexo”. Coli assinala que uma das questões do século XIX era a ameaça do desejo contida no feminino. Inerte, entregue à contemplação, a mulher não ameaçaria.
Em algumas manifestações escandalizadas, o fato de Courbet ter “reduzido” a mulher a um pedaço da anatomia foi considerado uma afronta. Uma mulher sem cabeça, sem braços, sem história. A pintura chegou a ser definida pelo escritor e fotógrafo francês Maxime Du Camp como um “lixo digno de ilustrar as obras do Marquês de Sade”. Análises mais psicanalíticas explicam o horror de quem olha pela castração. Diante do espectador, entre as coxas abertas da mulher se revelaria a ferida aberta, a falta, a impossibilidade de ser completo. As mulheres se horrorizariam pela constatação da castração, os homens pelo temor a ela. Se alguns olhares produzem pistas, outros reforçam apenas o incômodo que a obra produzia.
O efeito do quadro já foi tentado em fotografias de mulheres, em geral prostitutas, colocadas na mesma posição, mas o resultado revelou-se diverso. Ao transpor para a fotografia, não é mais a imagem de Courbet, mas outra. Até que, em 1989, uma artista francesa, Orlan, fez algo marcante – e com grande potencial para gerar polêmica – a partir da obra original. Ela reproduziu a pintura trocando a vagina por um pênis – ou a boceta por um caralho. E chamou-a de A origem da guerra. Olhar para essa imagem causa um estranhamento, especialmente porque a posição, deitada de costas, é muito mais íntima da mulher do que do homem. O pênis, no caso, se oferece ereto ao olhar, mas a partir de um corpo na horizontal, entregue.
É instigante, desde que a provocação não seja reduzida a um feminismo indigente, banalizado pela crença pueril do “a mulher gera a vida, o homem a morte”. A intenção de Orlan, segundo Roudinesco, era bem mais refinada. Ela “pretendia desmascarar o que a pintura dissimulava, realizando uma fusão da ‘coisa’ irrepresentável com seu fetiche negado”. Reivindicava então a “imprecisão do gênero e da identidade” que marca o nosso tempo, anunciando, por sua vez: “Sou um homem e uma mulher”.
O que se pode afirmar é que Courbet revelou o que está sempre coberto, oculto, escondido. No Carnaval brasileiro, por exemplo, como lembra a psicanalista Maria Cristina Poli em um artigo interessante sobre o feminino, tudo é exposto – e até superexposto – do corpo da mulher, menos a vagina. Mas a força do quadro não está só no “mostrar”. Há algo de incapturável e único na forma como Courbet mostrou o “imostrável”, já que a transposição da imagem para a fotografia não causa o mesmo efeito. E o que é?
Não sei.
A vagina pintada por Courbet é peluda como não vemos mais nos dias de hoje. A depilação quase total do sexo feminino tornou-se um popular produto de exportação do Brasil. Tanto que virou um dos significados da palavra “Brazilian” no renomado Dicionário Oxford: "Estilo de depilação no qual quase todos os pelos pubianos da mulher são retirados, permanecendo apenas uma pequena faixa central”. Pelo visto, a partir dos trópicos supostamente liberados e sexualizados, a vagina depilada virou um clássico contemporâneo.
Este é um ponto interessante. Ao primeiro olhar, a extração dos pelos serviria para revelar mais a vagina, mas me parece que este é mais um daqueles casos, bem pródigos na nossa época, em que se mostra para ocultar – a superexposição que ofusca e cega. A vagina sem pelos é uma vagina flagelada – e arrancar os pelos com cera é mesmo um flagelo. É também uma vagina infantilizada pela força. E é ainda uma vagina esterilizada, já que vale a pena lembrar que no passado recente essa depilação agressiva só acontecia nos hospitais para, supostamente, facilitar o parto. “Se não depilo totalmente, me sinto suja”, disse-me uma amiga. Suja?
Em janeiro de 2000, a atriz Vera Fischer exibiu sua vagina peluda em um ensaio fotográfico da revista Playboy. Causou furor. Falou-se na “Mata Atlântica”, na “Amazônia”, na “selva” onde sempre é perigoso penetrar. Havia algo de poderoso e incontrolável na vagina em estado “natural” de Vera Fischer, e a polêmica se fez. Era uma mulher não domesticada ali. Uma mulher adulta.
Não me parece – e nunca saberemos se tenho razão – que, se Courbet tivesse pintado uma vagina careca, ela teria causado tanto o horror de Emilia quanto o êxtase em mim. A vagina pintada por Courbet é uma vagina que revela. Mas o quê?
Não sei. A maravilha da arte é que ela nos transtorna sem a menor intenção de nos dar respostas – muito menos caminhos a seguir. A arte é sempre labiríntica. Não há sentimentos “certos” ou “errados” diante da expressão artística, há sentimentos apenas. Movimentos. Que nos levam por aí, aqui. É em respeito a essa ideia que decidi não colocar nenhuma imagem do quadro aqui, nem mesmo um link – ou um atalho – para a imagem na internet. A busca da origem do mundo é pessoal e intransferível. Assim como a decisão de buscá-la.
A obra de Courbet sempre foi oculta por uma outra pintura. Ou cortina. Exceto agora, que a exibição no museu deu a ela uma espécie de salvo-conduto, por ser ali “o lugar certo”. De algum modo, até então, a vagina mais famosa da História da Arte fora coberta por um véu – além do véu representado pela própria pintura.
Decidi não cobrir minha reprodução de A origem do mundo com uma burca. Vamos ver o que acontece.
Eliane
Brum in. Época
_______
Nota
do Blog: Caso seja maior de idade e se for seu interesse acesse o link para a L’Origine du Monde, 1866.
sábado, 13 de outubro de 2012
A beleza do feio*
(detalhe - O Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch)
Uma
das questões mais delicadas da Teoria Estética é a aparente contradição entre o
ideal de Beleza (que se propala ser o objetivo maior da Arte), e o fato de que
admiramos obras que retratam algo repugnante, horrível ou aterrorizador. Quadros
como as máscaras e os esqueletos de James Ensor, as bruxas de Goya, os corpos
semi-destruídos de Francis Bacon. Nem quero chegar perto da arte contemporânea
e suas incursões pelas mutilações corporais; basta me deter na boa e velha
pintura a óleo, feudo confortável do academicismo, do culto à estética grega e
ao equilíbrio romano. Por que motivo aqueles artistas cultivavam o Feio, e,
mais ainda, por que ele nos parece Belo?
Dizem os teóricos da Arte que uma das categorias mais extremadas do Belo é o Sublime. “Sublime” é um dos adjetivos mais diluídos e malbaratados da nossa língua. As letras de músicas falam em “teu sorriso sublime”, “o momento sublime em que nos beijamos”, “a beleza sublime de uma criança”, etc. Segundo os filósofos, o Sublime não é o Mimoso. Nada tem a ver com essas delicadezas. Ele é vizinho do Medonho, do Grandioso e do Terrível. Schopenhauer criou uma gradação de experiências do Sublime que, nos seus graus mais elevados tem o Sublime propriamente dito, cujo exemplo é a Natureza turbulenta (algo que pode ferir ou destruir o observador, como uma tempestade), o sentimento pleno do Sublime (a contemplação de algo tremendamente destruidor, como a erupção de um vulcão próximo) e a experiência mais completa do Sublime (quando o observador experimenta sua total insignificância e anulação diante da Natureza).
Além disso, engana-se quem pensa que procuramos a Arte apenas para a contemplação estética, a edificação do espírito ou o entretenimento sem compromisso. Procuramos a Arte também, em todas as suas formas, em busca de experiência-limite, em busca do contato com coisas que tememos ou que não conseguimos compreender. Existem obras que funcionam porque nos permitem vislumbrar zonas crepusculares do nosso inconsciente, obras que nos provocam medo ou repulsa, mas que nos obrigam a imaginar por quê. Podemos encontrar isso nas formas mais diluídas da arte, como nos filmes de Zé do Caixão ou nos romances de Stephen King; e podemos encontrá-lo nas tragédias de Ésquilo ou de Shakespeare, na pintura de Dali ou de Hieronymus Bosch, no cinema de Buñuel, David Lynch ou Fritz Lang.
A psicanálise chamou a mente humana de “máquina desejante”, um mecanismo impulsionado pelo desejo. A impressão que tenho é que há dois tipos de desejo, o Desejo Positivo e o Desejo Negativo. Ou, se quiserem, a Atração e a Repulsa. Ambos nascem na mesma região íntima, são forças simétricas, mas uma é de atração e a outra de repulsão. Freud falava na energia da vida e da morte, Eros e Tânatos. O lugar de onde emanam é um só, e uma das suas chaves é a arte, capaz de despertar em nós não apenas a sensação do Belo, mas a sensação do Terrível.
Braulio
Tavares in. Mundo Fantasmo
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
Fundação da infância*
Quando não eram mortas pela peste, as crianças pobres eram levadas pelo frio ou pela fome. A execução pela fome podia ocorrer nos primeiros dias, se não sobrasse leite suficiente nas tetas das mães, que eram amas-de-leite pobres de bebês ricos.
Mas tampouco os bebês de bom berço chegavam a uma vida fácil. Por toda a Europa, os adultos contribuíam para aumentar a taxa de mortalidade infantil submetendo seus filhos a uma educação severa.
O ciclo educativo começava quando o bebê era transformado em múmia. A cada dia, os serviçais o embutiam, da cabeça aos pés, num embrulho de vendas e faixas muito apertadas.
Assim se fechavam seus poros à passagem das pestes e aos vapores satânicos que povoavam o ar, e se conseguia que a criatura não incomodasse os adultos. O bebê, prisioneiro, mal podia respirar, nem pensava em chorar, e suas pernas e braços amarrados o proibiam de se mover.
Se as chagas ou a gangrena não o impedissem, aquele pacote humano passava para as etapas seguintes. Através do uso de correias era ensinado a ficar de pé e a caminhar como Deus manda, evitando o costume animal de andar de quatro. E depois, quando já estava mais crescidinho, começava o uso intensivo da chibata de nove tiras, dos bastões, das palmatórias, das varas de madeira ou dos vergalhões e outros instrumentos pedagógicos.
Nem os reis se salvaram. O rei francês Luís XIII foi coroado quando completou oito anos, e começou o dia recebendo sua dose de açoite.
O rei sobreviveu à sua infância.
Outras crianças também sobreviveram, sabe-se lá como, e foram adultos perfeitamente preparados para educar seus filhos.
Eduardo Galeano. in. "Espelhos". Ed. L&PM, 2009, pp. 85-86.
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
Lembrança e legado de Eric Hobsbawm*
Eric J. Hobsbawm (1917-2012)
Se Eric Hobsbawm tivesse morrido há
25 anos atrás, os obituários o descreveriam como o historiador marxista
britânico mais notável e acabariam mais ou menos aí. Mas ao morrer agora, aos
95 anos, ele atingiu uma posição única na vida intelectual de seu país. Nos
últimos anos, tornou-se o historiador britânico mais respeitado de qualquer
tipo, reconhecido (se não aprovado) tanto pela esquerda quanto pela direita, e
um dos poucos historiadores de qualquer era a desfrutar reconhecimento nacional
e internacional genuíno.
Diferente
de outros, Hobsbawm atingiu tal status sem voltar-se contra o marxismo ou Marx.
Em seu 94º ano, ele publicou How
to change the world [leia resenha em Outras
Palavras], uma forte defesa da relevância contínua de Marx na
sequência do colapso dos bancos de 2008-2010. Além disso, atingiu o auge de sua
reputação em um momento em que as ideias e projetos socialistas, que tanto
estimularam sua escrita por mais de meio século, estavam em desarranjo
histórico – algo de que ele esteve muito consciente.
Em uma profissão conhecida por
preocupações microscópicas, poucos historiadores envolveram-se num campo tão
vasto, com tantos detalhes ou com tanta autoridade. Até o fim, Hobsbawm
considerava-se essencialmente um historiador do século 19, mas seu entendimento
desse e de outros séculos era amplo e cosmopolita.
O
alcance de seu interesse pelo passado, e seu excepcional domínio dos temas
pelos quais se embrenhava sempre espantaram a muitos, principalmente na série
de quatro volumes A era das… na
qual se destila a história do mundo capitalista de 1789 a 1991. “A capacidade
de Hobsbawm de armazenar e recuperar detalhes atingiu agora a escala
normalmente alcançada apenas por grandes arquivos com grandes equipes”,
escreveu Neal Ascherson. Tanto por seu conhecimento de detalhes históricos
quanto por seu extraordinário poder de síntese, tão bem colocados no projeto
dos quatro volumes, ele foi incomparável.
Hobsbawm nasceu em Alexandria, um
bom lugar para um historiador do império, em 1917, um bom ano para um
comunista. Ele faz parte da segunda geração britânica de sua família, neto de
um judeu polonês e marceneiro que foi para Londres nos anos 1870. Oito filhos,
incluindo Leopold, pai de Eric, nasceram na Inglaterra e todos ganharam
cidadania britânica quando nasceram (o tio de Hobsbawm, Harry, tornou-se o
primeiro prefeito eleito pelo Partido Trabalhista em Paddington).
Mas
Eric era um britânico com um background pouco comum. Outro tio, Sidney, foi
para o Egito antes da Primeira Guerra Mundial e encontrou um emprego para
Leopold numa agência de despachos marítimos. Lá, em 1914, Leopold Hobsbawm
conheceu Nelly Gruen, uma jovem vienense de uma família de classe média, que
tinha ganho uma viagem ao Egito como prêmio por ter terminado seus estudos. Os
dois ficaram noivos, mas a eclosão da I Guerra Mundial os separou. O casal
acabaria se casando na Suíça em 1916, voltando ao Egito para o nascimento de
seu primeiro filho, Eric.
“Todo historiador tem sua história
de vida, um ponto de vista privado para examinar o mundo”, ele disse em 1993,
em uma palestra em Creighton, numa das várias ocasiões nos seus últimos anos em
que tentou relacionar sua história de vida com sua escrita. “Meu ponto de vista
foi construído a partir de uma infância em Viena nos anos de 1920, os anos em
que Hitler ganhou força em Berlim, que determinaram minha visão política e meu
interesse pela história; e na Inglaterra, especialmente em Cambridge nos anos
1930, quando confirmei as duas escolhas”.
Em 1919, a jovem família assentou-se
em Viena, onde Eric frequentou a escola primária, período que ele mais tarde
relembrou em 1995, em um documentário na televisão que mostrava fotos de um
jovem Hobsbawm magro, usando shorts e meias até os joelhos. A política teve seu
impacto mais ou menos nessa época. A primeira memória política de Eric é de
Viena, em 1927, quando trabalhadores queimaram o Palácio da Justiça. A primeira
conversa política de que ele se lembrava aconteceu em um sanatório, por volta
desse ano. Duas mulheres judias estavam discutindo Leon Trotsky. “Diga o que
você quiser”, uma disse a outra, “mas ele é um jovem judeu chamado Bronstein”.
Em 1929, seu pai morreu de um ataque
cardíaco. Dois anos depois, sua mãe morreu de tuberculose. Eric tinha 14 anos,
e seu tio Sidney assumiu a responsabilidade, e levou Eric e sua irmã Nancy para
Berlim. Como um adolescente em Berlim na República Weimar, Eric inevitavelmente
se politizou. Ele leu Marx pela primeira vez, e se tornou um comunista.
Ele
sempre se lembrou do dia, em janeiro de 1933, quando, ao sair da estação
Halensee S-Bahn voltando da escola para casa, viu uma manchete em um jornal
anunciando que Hitler havia sido eleito chanceler. Por volta dessa época,
juntou-se ao Socialist Schoolboys, que descreveu como “de fato parte do
movimento comunista” e vendeu a publicação Schulkampf (“Luta Estudantil”). Ele manteve o
mimeógrafo da organização sob sua cama e, dada sua facilidade posterior em
escrever, provavelmente também redigiu também a maioria dos artigos. A família
permaneceu em Berlim até 1933, quando Sidney Hobsbawm foi enviado para a
Inglaterra por seus empregadores.
O
garoto adolescente que foi morar com sua irmã em Edgware, em 1934, descreveu a
si mesmo posteriormente como “completamente europeu e germanófono”. A escola,
porém, “não era um problema” pois o sistema educacional inglês estava “muito
atrás” do alemão. Um primo em Balham apresentou-o ao jazz pela primeira vez – o
“som irrespondível”, ele chamava. O grande momento da conversa, ele escreveria
uns 60 anos depois, foi quando ouviu pela primeira vez a banda Duque Ellington
“em sua forma mais imperialista”. Atuou durante uma parte dos anos 1950 como
crítico de jazz do New Statesman, e publicou uma edição especial, The
Jazz Scene, sobre o assunto, em 1959, sob o pseudônimo de Francis
Newton (muitos anos mais tarde, a obra foi relançada com Hobsbawm identificado
como o autor).
Ao aprender a falar inglês
corretamente, Eric tornou-se aluno na escola de gramática Marybone e ganhou, em
1936, uma bolsa de estudos para a King’s College, em Cambridge. Foi nessa época
que uma frase ficou comum, entre seus amigos comunistas de Cambridge: “tem
alguma coisa que o Hobsbawm não sabe?”. Ele tornou-se membro da legendária
Cambridge Apostles. “Todos nós pensamos que a crise de 1930 era a crise final
do capitalismo”, ele escreveu 40 anos depois. Mas, acrescentou, “não era”.
Quando a II Guerra Mundial teve
início, Hobsbawm voluntariou-se, como muitos comunistas, para trabalho de
inteligência. Mas suas ideias políticas, que nunca foram segredo, levaram à
rejeição. Então ele tornou-se um escavador improvável na 560ª Companhia de
Campo, que posteriormente descreveu como “uma unidade muito operária, tentando
construir defesas notoriamente inadequadas contra invasões no litoral de East
Anglia”. Essa também foi uma experiência formativa para o jovem prodígio
intelectual, muitas vezes ausente. “Havia algo sublime sobre eles e a
Inglaterra naquele tempo”, escreveu. “Aquela experiência na guerra converteu-me
em um operário inglês. Eles não eram muito inteligentes, exceto os escoceses e
galeses, mas eles eram pessoas muito, muito boas”.
Hobsbawm casou-se com sua primeira
esposa, Muriel Seaman, em 1943. Depois da guerra, de volta a Cambridge, tomou
outra decisão: abandonou um doutorado planejado sobre a reforma agrária no
norte da África para fazer uma pesquisa sobre os socialistas fabianos. Foi uma
escolha que abriu a porta tanto para uma vida de estudos sobre o século 19
quanto para uma preocupação igualmente duradora sobre os problemas da esquerda.
Em 1947, ele conseguiu seu primeiro trabalho permanente, como professor
conferencista de história no Birkbeck College, em Londres, onde permaneceu
grande parte da sua vida como professor.
Com o início da Guerra Fria, um
macartismo acadêmico muito britânico fez com que a cátedra de Cambridge, que
Hobsbawm sempre cobiçou, nunca se materializasse. Ele viajava de Cambridge para
Londres, como um dos principais organizadores e animadores do Grupo de
Historiadores do Partido Comunista, uma academia brilhante e radical que reuniu
alguns dos mais proeminentes historiadores do pós-guerra. Entre seus membros,
estavam Christopher Hill, Rodney Hilton, AL Morton, EP Thompson, John Saville
e, mais tarde, Raphael Samuel. O que quer que o grupo tenha alcançado (e
Hobsbawm escreveu uma dissertação sobre ele em 1978), a experiência certamente
estabeleceu um núcleo para seus primeiros passos como grande escritor de
História.
O
primeiro livro de Hobsbawm, “Labour’s Turning Point” (1948) – uma coleção editada de
documentos da era do socialismo Fabiano – pertence claramente à época de
militância no Partido Comunista, assim como o seu engajamento no debate famoso
sobre as consequências econômicas do início da Revolução Industrial, um tema
sobre o qual ele e RM Hartwell teceram argumentos em sucessivos números da Economic
History Review. A
fundação do jornal Past and Present também pertence ao mesmo período. É
até hoje o mais duradouro periódico do grupo de historiadores do PC britânico.
Hobsbawm nunca deixou o Partido
Comunista e sempre pensou em si mesmo como parte de um movimento internacional
comunista. Para muitos, este continua a ser o obstáculo insuperável para
abraçar sua obra. Contudo, ele sempre manteve-se muito mais como um
livre-pensador autorizado a permanecer dentro das fileiras do partido. Sobre a
invasão da Hungria pela União Soviética, em 1956, um evento que dividiu o PC e
provocou a saída de muitos intelectuais do partido, ele foi uma voz de protesto
que, no entanto, permaneceu.
Todavia,
a exemplo de seu contemporâneo Christopher Hill, que deixou o PC naquele
momento, a combinação, de alguma forma, do trauma político de 1956 e o início
de um longo e feliz segundo casamento, provocou um período sustentado e
frutífero de produção no campo da História, o que veio a estabelecer sua fama e
reputação. Em 1959, ele publicou sua primeira grande obra, “Primitive Rebels”, um relato notavelmente original,
especialmente para aqueles tempos, das sociedades secretas e das culturas
milenares do Sul da Europa (ele ainda estava escrevendo sobre o assunto
recentemente, em 2011). Voltou a esses temas uma década depois, em Captain
Swing, um estudo detalhado do protesto rural do início do século 19
na Inglaterra, em co-autoria com George Rudé, eBandidos, um esforço mais abrangente de síntese. Essas
obras servem de lembretes de como Hobsbawm foi tanto uma ponte entre a
historiografia europeia e a britânica e, também, um precursor do aumento
notável do estudo da história social no pós-1968 britânico.
À
essa altura, porém, Hobsbawm já havia publicado o primeiro dos trabalhos sobre
os quais suas reputações popular e acadêmica iriam se assentar. Uma coleção de
alguns dos seus ensaios mais importantes, Labouring Men, apareceu em 1964 (uma segunda coleção,Worlds of Labour, iria surgir 20 anos mais tarde). Mas
foi Industry and Empire (1968),
uma compilação convincente de muito do seu trabalho sobre a revolução
industrial da Grã-Bretanha, que alcançou o mais alto reconhecimento – e, não à
toa, raramente a obra encontra-se fora de catálogo.
Foi
ainda mais influente, no longo prazo, a série a Era
de…, que começou em 1962 com a A
Era das Revoluções: 1789-1848. Ela foi sucedida por A
Era do Capital: 1848-1875 (1975) e,
depois, por A Era do Império: 1875-1914 (1987).
Um quarto volume, A Era dos Extremos: 1914-1991, mais peculiar e
especulativo, ainda que, sob alguns aspectos, mais notável e admirável do que
as obras anteriores, ampliou a sequência em 1994.
Os
quatro volumes incorporam todas as melhores qualidades de Hobsbawm – a
varredura do tema e a compreensão estatística combinadas pelo ar de anedota, a
atenção pelas nuances e o significado das palavras além de, sobretudo, um
incomparável poder de síntese (não há lugar onde o capitalismo dos meados do
século 19 esteja mais bem disposto do que o clássico sumário presente na
primeira página do segundo volume). Os livros não foram concebidos como
tetralogia, mas adquiriram, assim que surgiram, status individual e, ao mesmo
tempo, cumulativo, de claśsico. Eles foram um exemplo, como diria o próprio
Hobsbawm, “daquilo que os franceses chamam de ‘haute vulgarisation‘ [alta vulgarização]” (e ele não
disse isso no sentido autodepreciativo). Os livros ornaram-se, nas palavras de
um revisor, “parte da mobília dos ingleses bem-formados”.
O
primeiro casamento de Hobsbawm tinha terminado em 1951. Durante os anos 1950,
ele teve outro relacionamento, que resultou no nascimento de seu primeiro
filho, Joss Bennathan; mas a mãe do garonto não quis casar-se. Em 1962, ele
casou-se de novo, agora com Marlene Schwartz, de ascendência austríaca.
Mudaram-se para Hampstead e compraram uma segunda casa pequena em Gales.
Tiveram dois filhos, Andrew e Julia.
Nos
anos 1970, a fama crescente de Hobsbawm como historiador viu-se acompanhada
pelo crescimento da sua fama como narrador de seu próprio tempo. Embora ele
respeitasse, como historiador, a disciplina centralista do Partido Comunista,
sua eminência intelectual deu-lhe uma independência que lhe permitiu conquistar
o respeito de pensadores críticos ao comunismo, a exemplo de Isaiah Berlin.
Isso também garantiu-lhe o considerável elogio de não ter nenhum de seus livros
publicados na União Soviética. Armado e protegido, ele navegou sem medo por
todo o campo da esquerda, das páginas mensais do Partido Comunista ao Marxism Today, uma publicação consideravelmente
heterodoxa na qual tornou-se sumidade da casa.
Suas
conversas com o comunista – e, agora, presidente – italiano Giorgio Napolitano
datam daqueles anos e foram publicadas em A Estrada Italiana para o Socialismo. Mas sua mais
influente contribuição política foi a crescente certeza de que o movimento
proletário europeu perdera a capacidade de realizar a função transformadora que
os marxistas primordiais lhe creditavam. Esses artigos revisionistas
descompromissados foram organizados sob o título “The Forward March of Labour Halted” [A Marcha do Trabalho Interrompida].
Em 1983, quando Neil
Kinnock tornou-se líder do Partido Trabalhista britânico, por conta de sua
sorte eleitoral, a influência de Hobsbawm começou a se estender para além do
Partido Comunista e para dentro do Trabalhista. Kinnock reconheceu publicamente
sua dívida para com Hobsbawm e permitiu-se ser entrevistado pelo homem que descreveu
como “meu marxista favorito”. Embora Hobsbawm tenha desaprovado firmemente
muito daquilo que seria conhecido depois como “Novo Trabalhismo” – algo que
via, entre coisas, como covardia histórica – ele foi, sem dúvida, o precursor
intelectual mais influente do revisionismo iconoclasta do trabalhismo dos anos
1990.
Seu
status foi sublinhado em 1998, quando o então primeiro-ministro Tony Blair
concedeu-lhe a distinção de Companion of Honour, poucos meses depois de ter
completado 80 anos. Na sua justificativa, o premiê disse que Hobsbawm
continuava a publicar trabalhos que “localizam na História e na política
problemas que reemergem, para perturbar a complacência da Europa”.
Nos últimos anos, Hobsbawm viu sua reputação
crescer. Suas comemorações de aniversário de 80 e 90 anos foram premiadas com a
presença da intelectualidade liberal e de esquerda da Grã-Bretanha. Ao longo
dos últimos anos, ele continuou a publicar volumes de ensaios, incluindo On
the History (1997) e Uncommon
People (1998),
trabalhos nos quais Dizzy Gillespie e Salvatore Giuliano colocaram-se lado a
lado no índice de testemunhas das crescente curiosidade de Hobsbwm. Também são
dessa época uma autobiografia muito bem-sucedida, Tempos
Interessantes, publicada em 2002, eGlobalização, Democracia e Terrorismo, de 2007.
Mais famoso no fim de sua vida do que
provavelmente em qualquer outro período, ele manteve com regularidade suas
palestras, comunicações e o papel como performer no
Festival de Literatura de Hay, do qual tornou-se presidente aos 93 anos, após a
morte de Lord Bingham de Cornhill. Um tombo, em 2010 reduziu severamente sua
mobilidade, mas seu intelecto permaneceu intocado, assim como sua vida social e
cultura, graças aos esforços, ao amor e à culinária de Marlene.
Que seus escritos tenham continuado
a sensibilizar tantos públicos, no momento em que sua política foi, de certa
forma, eclipsada, era o tipo de disjunção que exasperava os direitistas. Mas
foi também o paradoxo em que seu intelecto sutiu e jamais complacente
refestelou-se. Em seus últimos anos, ele gostava de citar EM Forster, segundo o
qual o próprio Hobsbawm sabia “permanecer sempre num ângulo suave do universo”.
Se o comentário diz mais sobre Hobsbawm ou sobre o universo era algo que ele
gostava de debater, confiante na noção de que se tratava, em muitos sentidos de
um aprendizado para ambos. Ele deixa Marlene e seus três filhos, sete netos e
um bisneto.
Por Martin Kettle e Dorothy Wedderburn, no The Guardian | Tradução: Daniela Frabasile e Hugo
Albuquerque in. Outras Palavras
Assinar:
Postagens (Atom)