Safo e Erina no Jardim de Mitilena, Simeon Salomon
Londres, Tate Gallery
O "amor grego", com seu arquivo de maravilhosos escritos sobre o desejo e seu repertório de belas imagens de corpos masculinos do mundo clássico, assegurou uma fonte privilegiada de ideias com as quais o Ocidente pudesse conceber o desejo masculino e a masculinidade em geral. Em comparação, a história do desejo feminino é muito menos articulada.
A história do amor entre mulheres demonstra como qualquer noção de simetria entre o desejo masculino e o feminino seria altamente enganosa. Não há equivalentes às instituições do amor grego, que são básicas para o desejo masculino. Os homens têm o ginásio, o simpósio e outros espaços públicos da cidade para, sob o olhar cuidadoso da sociedade que tanto encoraja quanto policia o comportamento erótico, praticar um elaborado ritual de corte; as mulheres não possuem esses tipos de arenas. Escritores do sexo masculino que idealizam o amor por meninos descrevem o desejo entre mulheres como horrendo, imoral, contrário à natureza e simplesmente nojento. Mesmo quando o artista do século II Luciano escreve um diálogo ficcional no qual uma cortesã chamada Lena revela que foi seduzida por uma rica mulher, a personagem se envergonha do ato propriamente dito e se atrapalha com ele. Embora o ato seja descrito para o leitor de maneira provocante, o vocabulário utilizado carrega a ameaça constante de revelar a aversão e a lubricidade subjacentes. Existe outra razão pela qual a "homossexualidade" como um termo que vale para os dois gêneros não ter utilidade para a Atenas clássica. O homoerotismo feminino permaneceu uma prática não nomeada por todo o mundo clássico - embora muitas vezes descrito de maneira insultante -, sem nenhum status social exceto aquele conferido a uma perversão ultrajante e reprimida.
Na verdade, é impossível encontrar na cidade clássica, qualquer exemplo de uma mulher que desejasse a outra sexualmente. A ideia era suficientemente conhecida, mas os poucos escritores gregos - todos do sexo masculino - que chegam a mencioná-la consideram-na monstruosa. Em nossos registros históricos sobre Atenas clássica, com tantos casos de homens que amavam meninos, não há nenhum exemplo efetivo de uma mulher real que amasse mulheres. Podemos apenas imaginar um mundo escondido do desejo feminino.
Contudo, de uma época anterior à cidade clássica e de uma ilha no mar Egeu, dessa história de outra forma silenciada, emerge, sim, uma figura única, um ícone incomparável na obsessão da cultura moderna pela Grécia clássica para entender o desejo. Essa é Safo, e é ela quem domina todos os nossos conceitos sobre o desejo feminino clássico. Alguns de seus poemas imortalizam seu desejo por belas meninas. Se seguirmos a atração de Safo, descobriremos muito mais que a santa padroeira das mulheres que amam mulheres.
Apesar de não sabermos quase nada sobre Safo - ou talvez por isso mesmo -, ela se tornou um ícone para a reflexão sobre a sexualidade feita através do prisma grego. Quando juntamos tudo o que com certeza sabemos sobre ela, mal somos capazes de construir uma narrativa biográfica. Ela viveu por volta do século VI a.C. e escreveu poesias de amor na ilha de Lesbos, algumas das quais foram escritas para mulheres. Tudo o mais que passa por biografia é inventado por estudiosos antigos ou modernos com base em sua poesia, ou, já que existem apenas alguns fragmentos e uns poucos poemas que ainda podem ser lidos, com base em projeções imaginativas.
As histórias vêm em todas as formas e tamanhos. Ela se apaixonou por um homem chamado Fáon e se atirou de um despenhadeiro em um desespero suicida; foi professora de um grupo de meninas a quem ensinou; ela era baixa, de pele escura e feia; teve uma filha chamada Cleide; teve uma amante chamada Cleide; foi uma poetisa que desempenhou todos os papéis de um poeta da época, compondo canções para casamento, para festas e bebedeiras, pequenas sátiras e letras insensíveis; foi uma poetisa que criou uma nova estética feminina, removida das esferas masculinas da guerra e da violência, em um novo e exuberante espaço de sensualidade e sensibilidade, que celebrava relações pessoais entre mulheres. Geralmente leitores clássicos consideravam Safo o maior dos escritores de poemas líricos, a décima musa, e ela foi admirada com paixão por toda Antiguidade. Sua obra, qualquer que seja a dinâmica de gêneros de suas histórias de amor, foi cantada por homens em simpósios durante séculos, embora seja difícil imaginar exatamente como se sentia um homem daquela sociedade patriarcal ao recitar seus poemas.
Mais que qualquer outra figura, Safo mostra como a sexualidade moderna utiliza a Grécia como espelho no qual se encontrar. Ela constitui um modelo de como o Ocidente utiliza a Grécia antiga para pensar sobre o desejo. Uma vez que tão pouco é de fato conhecido sobre a Safo real, ela se torna uma tela perfeita para a projeção de uma imagem do desejo.
Simon Godhill. in. Amor, Sexo & Tragédia. Ed. Jorge Zahar, 2007, pp. 72-74.
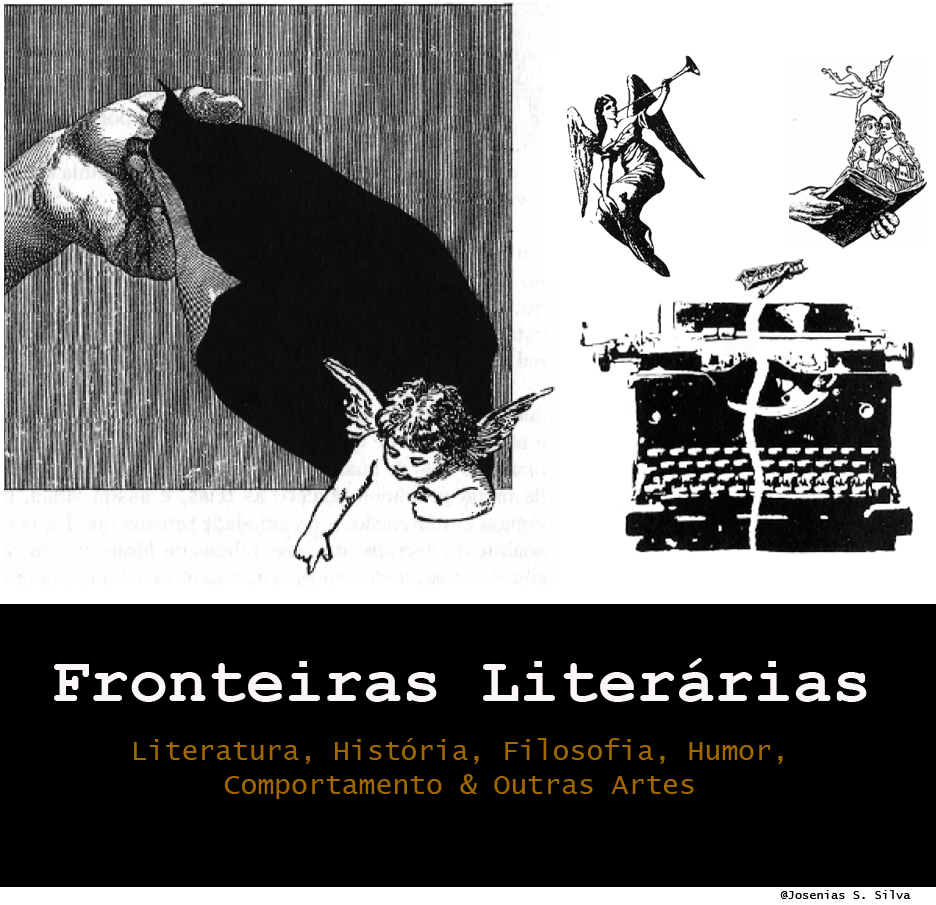







.jpg)
.jpg)
.jpg)








