O último dia do ano
não é o último dia do tempo.
Outros dias virão
e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida.
Beijarás bocas, rasgarás papéis,
farás viagens e tantas celebrações
de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia
e coral,
que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor,
os irreparáveis uivos
do lobo, na solidão.
O último dia do tempo
não é o último dia de tudo.
Fica sempre uma franja de vida
onde se sentam dois homens.
Um homem e seu contrário,
uma mulher e seu pé,
um corpo e sua memória,
um olho e seu brilho,
uma voz e seu eco,
e quem sabe até se Deus...
Recebe com simplicidade este presente do acaso.
Mereceste viver mais um ano.
Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos.
Teu pai morreu, teu avô também.
Em ti mesmo muita coisa já expirou, outras espreitam a morte,
mas estás vivo. Ainda uma vez estás vivo,
e de copo na mão
esperas amanhecer.
O recurso de se embriagar.
O recurso da dança e do grito,
o recurso da bola colorida,
o recurso de Kant e da poesia,
todos eles... e nenhum resolve.
Surge a manhã de um novo ano.
As coisas estão limpas, ordenadas.
O corpo gesto renova-se em espuma.
Todos os sentidos alerta funcionam.
A boca está comendo vida.
A boca está entupida de vida.
A vida escorre da boca,
lambuza as mãos, a calçada.
A vida é gorda, oleosa, mortal, sub-reptícia.
não é o último dia do tempo.
Outros dias virão
e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida.
Beijarás bocas, rasgarás papéis,
farás viagens e tantas celebrações
de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia
e coral,
que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor,
os irreparáveis uivos
do lobo, na solidão.
O último dia do tempo
não é o último dia de tudo.
Fica sempre uma franja de vida
onde se sentam dois homens.
Um homem e seu contrário,
uma mulher e seu pé,
um corpo e sua memória,
um olho e seu brilho,
uma voz e seu eco,
e quem sabe até se Deus...
Recebe com simplicidade este presente do acaso.
Mereceste viver mais um ano.
Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos.
Teu pai morreu, teu avô também.
Em ti mesmo muita coisa já expirou, outras espreitam a morte,
mas estás vivo. Ainda uma vez estás vivo,
e de copo na mão
esperas amanhecer.
O recurso de se embriagar.
O recurso da dança e do grito,
o recurso da bola colorida,
o recurso de Kant e da poesia,
todos eles... e nenhum resolve.
Surge a manhã de um novo ano.
As coisas estão limpas, ordenadas.
O corpo gesto renova-se em espuma.
Todos os sentidos alerta funcionam.
A boca está comendo vida.
A boca está entupida de vida.
A vida escorre da boca,
lambuza as mãos, a calçada.
A vida é gorda, oleosa, mortal, sub-reptícia.
Carlos Drummond de Andrade
in. "Poesia Completa". Ed. Nova Fronteira, 2007, pp. 131-2.
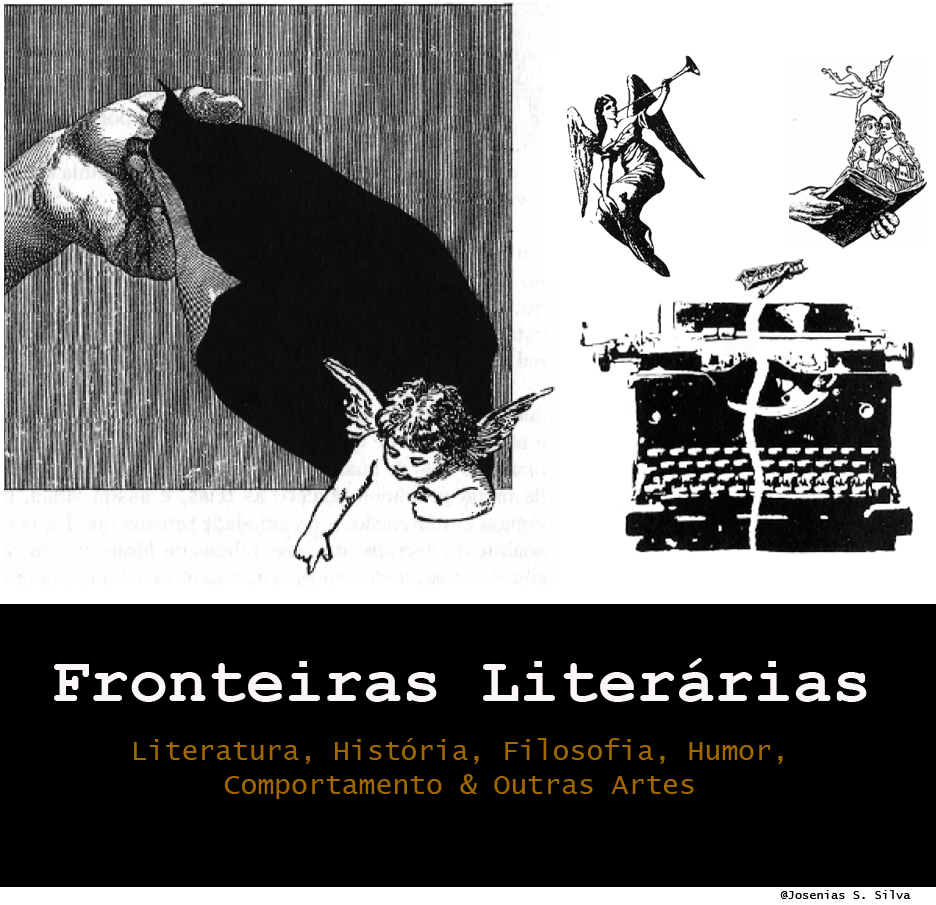




.jpg)



.jpg)








