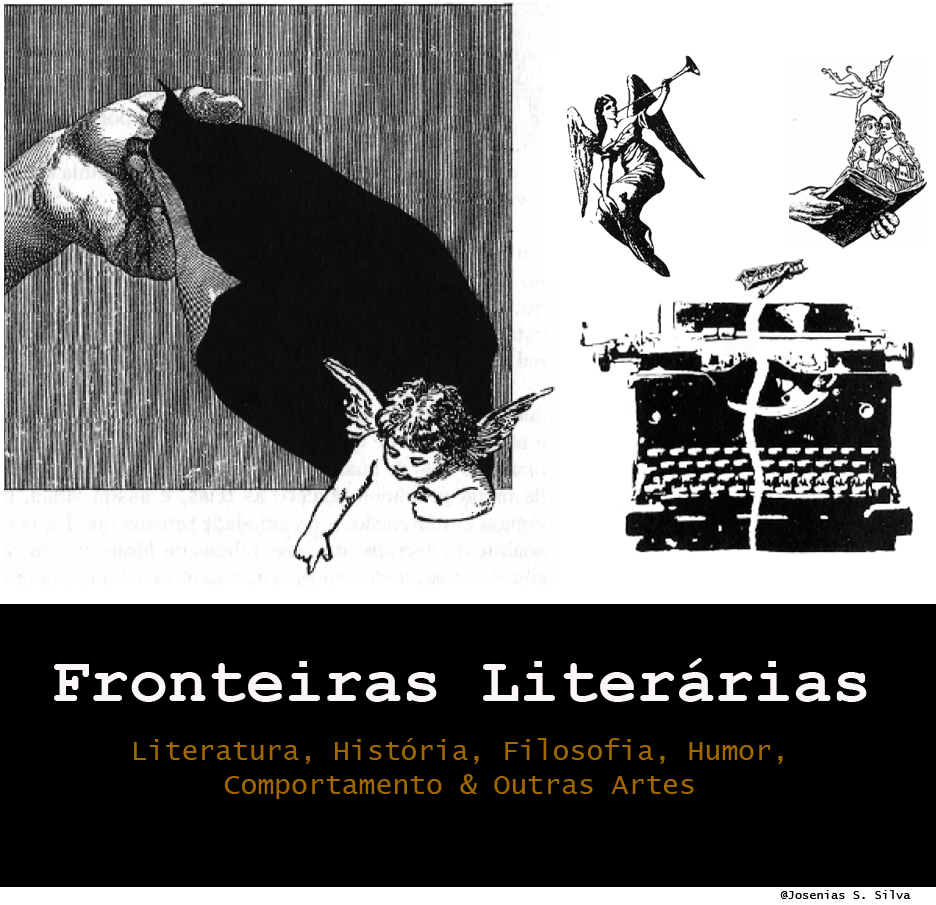O texto abaixo é uma versão revisada, atualizada e
abrasileirada do Manual do Perfeito Idiota Latino-americano, dos anos 1990.
PIB. Chamemos de PIB. O Perfeito Idiota Brasileiro.
Vamos descrever o dia do PIB. Vinte e quatro horas
na vida de um PIB para que os pósteros, a posteridade, tenham uma idéia do
Brasil de 2012.
Ele acorda às sete horas da manhã. Tem que preparar
o próprio café da manhã. Já faz alguns anos que sua mulher parou de fazer isso
para ele, e ficou caro demais para ele pagar uma empregada doméstica.
Ele lamenta isso. Era bom quando havia uma
multidão de nordestinas sem instrução nenhuma que saíam de suas cidades por
falta de perspectiva e iam dar no Sul, onde acabavam virando domésticas.
PIB dá um suspiro de saudade. Chegou a ter uma
faxineira e uma cozinheira nos velhos e bons tempos. Num certo momento, PIB
percebeu que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Havia menos mulheres
dispostas a trabalhar como domésticas, e os salários foram ficando absurdos.
Para piorar ainda mais as coisas, ao contrário do
que sempre acontecera, a última empregada de PIB recusou votar no candidato que
ele indicou.
Mulherzinha metida.
PIB tomou o café na cozinha, com o Globo nas mãos.
Assinava o jornal fazia muitos anos. Se todos os brasileiros fossem como o
Doutor Roberto Marinho, PIB pensou, hoje seríamos os Estados Unidos.
Por que ainda não ergueram estátuas para ele?
Com o Globo, PIB iniciou sua sessão de leituras
matinais. Mais ou menos quarenta minutos, antes de ir para o escritório.
Leu Merval. Quer dizer, leu o primeiro parágrafo e
mais o título porque naquele dia o texto, embora magnífico, estava longo
demais. Havia um artigo de Ali Kamel. “Um cabeça”, pensou PIB. “Deve ter o QI
do Einstein.” Mas também aquele artigo –embora brilhante, um tratado perfeito
sobre o assistencialismo ou talvez sobre o absurdo das cotas, PIB já não sabia
precisar — parecia um pouco mais comprido do que o habitual. Deixou para
terminar a leitura à noite.
PIB vibrou porque, se não bastassem Merval e Kamel,
havia ainda Jabor.
Um gênio. Largou o cinema para iluminar o Brasil com
sua prosa espetacular. Um verdadeiro santo. Podia estar com a sala da casa
cheia de Oscar.
Começou a ler Jabor e refletiu. “Impressão minha ou
hoje aumentaram o tamanho do Jabor?” PIB sacudiu a cabeça, na solidão da
cozinha, num gesto de reverência extrema por Jabor, mas também achou melhor
deixar para ler mais tarde. Era seu dia de sorte. Também o historiador Marco
Antônio Villa estava no Globo. “Os primeiros 18 meses do governo Dilma foram
fracassos sobre fracassos” era a primeira linha. Bastava. Villa sempre
surpreendia com pensamentos que fugiam do lugar comum.
Como uma terrorista chegou ao poder? Bem, tenho que
comprar algum livro de história do Villa. Ele com certeza escreveu vários.
Completou a sessão de leituras da manhã na internet.
Leu Reinaldo Azevedo. Quer dizer, naquela manhã, leu um parágrafo. Na
verdade, metade. Menos. O título. Não importava. Azevedo era capaz de
mesmerizar toda uma nação com a luz cintilante de meia dúzia entre milhares de
linhas que produzia incessantemente. PIB deixava escapar um sorriso de
admiração a cada vez que li a palavra “petralha” em Azevedo.
Rei é rei. Um cabeça pensante. Por que será que não
ocorreu a nenhum presidente da República contratar esse homem como assesor
especial? Se o Brasil bobear, a Casa Branca vem e contrata.
Ainda na internet, uma passagem pelo Blog do Noblat.
Naquele dia, no blog havia uma coluna assinada por Demóstenes. PIB deu parabéns
mentais a Noblat por abrir espaço a Demóstenes, nosso campeão mundial da
moralidade, nosso Catão.
Por que falam tanto do tal do Assange e do Wikileaks
quando temos tantos caras muito melhores?
A caminho do trabalho, PIB ligou na CBN. Ouviu uma
entrevista com o filósofo Luiz Felipe Pondé. “Meu pequeno carro não contribui
para o aquecimento do planeta”, disse Pondé, o nosso Sócrates, o Aristóteles
verde-amarelo.
Preciso anotar essa. Meu pequeno carro não contribui
para o aquecimento global.
Isso o levou a reparar nos ciclistas nas ruas de São
Paulo. Cada dia parecia haver mais. Mau sinal. Havia muitas bicicletas no
trajeto. PIB sentiu vontade de atropelá-las. Odiava ciclistas.
Atrapalhavam os motoristas.
Abria uma única exceção: Soninha. Desde que ela
continuasse a posar pelada em nome das bicicletas.
Hahaha.
Na CBN ouviu também informações e comentários sobre
o mundo. “Prestígio em Paris dá vantagem a Sarkozy nas eleições presidenciais”,
a CBN avisou. PIB admirava Sarkozy. Proibir a burca foi um gesto histórico. As
muçulmanas deveriam ser gratas a Sarkozy. Elas haveriam de votar maciçamente
nele para dar a ele o segundo mandato para o qual a CBN dizia que ele era o
favorito.
Os maridos obrigam as coitadas a usar burca.
O tema do islamismo estava ainda em sua mente quando
se instalou em seu cubículo de gerente na empresa. PIB refletiu sobre o mundo.
Tinha lido em algum lugar que no Afeganistão as pessoas queriam que os soldados
americanos fossem embora. Os afegãos estavam queimando bandeiras dos
Estados Unidos. A mesma coisa estava ocorrendo no Iraque. E no Iêmen. Em todo o
Oriente Médio, fora Israel.
Ingratos. Como eles não percebem que os Estados
Unidos estão lá para promover a democracia e levar a civilização? Os americanos
estão acima de interesses mesquinhos por coisas como o petróleo.
Era um perigo o avanço muçulmano. Não que apoiasse,
mas PIB entendia o norueguês que matara 77 pessoas por considerar que o governo
de seu país era leniente demais com os muçulmanos.
A raça branca está em perigo.
Entretido em salvar a raça branca, PIB não percebeu
o tempo passar. Só notou pela fome que já era hora de comer. A opção, mais uma
vez, foi pelo Big Mac do shopping, e mais a Coca dupla. Detestava os ativistas
dos direitos dos animais porque combatiam os Big Macs. PIB estava tecnicamente
obeso, mas na semana que vem iniciaria uma dieta e começaria também a se
exercitar.
Fim do expediente. A estagiária estava com um decote
particularmente ousado. Talvez estivesse sem sutiã. PIB a chamou algumas vezes
para discutir assuntos que na verdade não tinham por que ser discutidos. A
questão era olhá-la. Valeu o dia, refletiu.
Na volta, mais uma vez foi tomado pela tentação de
atropelar os ciclistas. “Quando você deseja muito uma coisa, todo o universo
conspira a seu favor”. PIB se lembrou da frase de seu escritor favorito, Paulo
Coelho. Então ele desejou muito que as bicicletas sumissem.
Xiitas.
Algum colunista escrevera isso sobre os ciclistas.
PIB não lembrava quem era, mas concordava inteiramente. Os ciclistas são gente
esquisita que deve fazer ioga e praticar meditação, suspeitava PIB.
Tudo gay!
Já incorporara para si mesmo a frase genial de
Pondé.
Meu carro pequeno não contribui para o aquecimento
global.
No churrasco de domingo, ia soltar essa. Teve um
breve lapso de inquietação quando se deu conta de que os brasileiros que tanto
contribuíam para a elevação do pensamento nacional já não eram tão novos assim,
O próprio Merval era imortal apenas pela sua contribuição às letras,
reconhecida pela Academia. Então lhe veio à cabeça a juventude sábia de Luciano
Huck, e ficou mais sossegado.
A mulher não percebeu quando ele chegou. Não era
culpa dela. A televisão estava ligada com som alto na novela da Globo. PIB lera
várias vezes que as novelas tinham uma “missão civilizadora” no Brasil. Mais
uma dívida dos brasileiros perante Roberto Marinho: a perpetuação das
novelas. A mídia impressa brasileira reconhecia a “missão civilizadora” na
forma de uma cobertura maravilhosa das novelas. Uma vez um leitor da Folha
reclamou por encontrar na Ilustrada seis artigos sobre novelas.
O brasileiro só sabe reclamar. E reivindicar. Uma
besta!
PIB deu um alô que não foi ouvido. Ou pensou ter
dado. Sentou ao lado da mulher, e o silêncio confirmou para ele sua tese:
depois de muitos anos de casamento as pessoas se entendem tão bem que não
precisam trocar uma só palavra. Nem se tocar. É quando o casamento chega ao
estágio da perfeição: ninguém tem que se empenhar para nada. A cada quinze
dias, PIB tomava Viagra e descarregava as tensões sexuais com uma escorte que
cobrava 400 reais.
Tá barato.
Não ligava para novelas. Mas soubera no escritório
que Juliana Paes aparecia de vez em quando pelada. Passou por sua cabeça um
pensamento rápido.
Talvez eu devesse pedir para a patroa me avisar
quando a Juliana Paes ficar sem roupa.
Terminada a novela, era a sua vez na televisão.
Futebol. Bacana o futebol passar bem tarde, depois da novela. Provavelmente a
Globo pensara nisso para ajudar os pobres que moravam longe e demoravam horas
para chegar em casa depois do trabalho.
“Boa noite, amigos da Globo!”
Um carisma total o Galvão. Subaproveitado. Devia
estar no Ministério da Economia, e não narrando futebol.
PIB lera que Galvão estava morando em Mônaco.
Sabichão. Ficava muito mais fácil, assim, cobrir a Fórmula 1. Nunca alguém da
estatura moral de Galvão optaria por Mônaco para não pagar imposto. Galvão
certamente faria bonito na Dança dos Famosos, pensou PIB.
PIB não torcia a rigor para time nenhum. Era,
essencialmente, anticorintiano. Com seu saco de pipocas na mão, viu,
contrariado, o Corinthians vencer.
Amanhã os boys vão estar insuportáveis.
PIB queria muito ver o Jô.
Era um final de dia perfeito, ainda mais porque
antes havia o aperitivo representado por William Waack. PIB achava um
privilegio poder ver Waack não apenas na Globo como na Globonews. Os Marinhos
podiam cobrar pela Globonews, mas não faziam isso para proporcionar cultura de
graça aos brasileiros. PIB zapeava quando Waack dava suas lições na televisão,
mas os fragmentos que pescava eram suficientes.
Jô. Não posso perder Jô. Uma enciclopédia. Podia ser
editorislista do Estadão. Hoje ele vai entrevistar o Mainardi!
PIB bem que queria ver Jô. Ou pelo menos incluí-lo
no zapeamento. Duas palavras de Jô valiam por mil das pessoas normais.
Mas não foi possível.
PIB acabou dormindo no sofá, do qual sua mulher
achou preferível não o tirar, e onde ele roncou tão alto quanto o som da tevê —
e teve, como sempre, o sono límpido, impoluto, irreprochável dos perfeitos
idiotas.
Paulo
Nogueira. in. Diário do Centro do Mundo