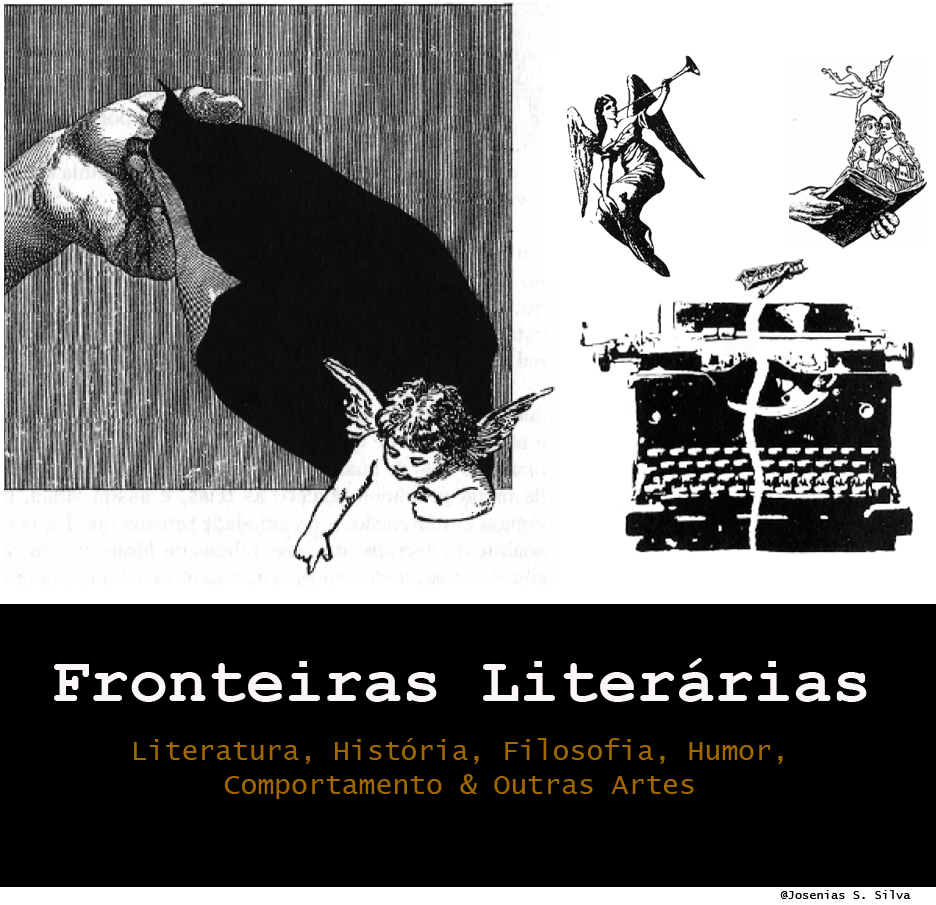Máscara do século XVI,
Nigéria, Edo, Corte de Benin.
Metropolitan Museum of Art.
As obras de arte da África negra, frutos da
criação coletiva, obras de ninguém, obras de todos, raramente são exibidas em
pé de igualdade com as obras dos artistas que se consideram dignos desse nome.
Esses butins do saque colonial podem ser encontrados, por exceção, em alguns
museus de arte da Europa e dos Estados Unidos e também em algumas coleções
privadas, mas seu espaço “natural” é nos museus de antropologia. Reduzida à
categoria de artesanato ou expressão folclórica, a arte africana só consegue
ser digna de atenção alinhada entre outros costumes de povos exóticos.
O mundo chamado “ocidental”, acostumado a atuar
como credor do resto do mundo, não tem maior interesse em reconhecer suas
próprias dividas. No entanto, qualquer um que tenha olhos para olhar e admirar,
poderia muito bem perguntar: Que seria da arte do século XX sem a contribuição
da arte negra? Sem a mamãe africana, que lhes deu de mamar, teriam existido as
pinturas e esculturas mais famosas de nosso tempo?
Numa obra publicada pelo Museu de Arte Moderna de
Nova York, Willian Rubin e outros estudiosos fizeram um revelador cotejo das
imagens. Página a página, documentaram a dívida da arte que chamamos arte com a
arte dos chamados povos “primitivos”, que é fonte de inspiração e plágio.
Os principais protagonistas da pintura e da
escultura contemporâneas foram alimentados pela arte africana e alguns a
copiaram sem ao menos dizer obrigado. O gênio mais alto da arte do nosso
século, Pablo Picasso, sempre trabalhou rodeado de máscaras e tapetes africanos,
e essa influência aparece em muitas maravilhas que deixou. A obra que deu
origem ao cubismo, “Les demoiselles d´Avinyó” (as senhoritas da rua das putas,
em Barcelona), contem um dos numerosos exemplos. O rosto mais célebre do quadro,
o que mais agride a simetria tradicional, é a reprodução exata de uma máscara
do Congo exposta no Museu Real da África Central, na Bélgica, que representa um
rosto deformado pela sífilis.
Algumas cabeças de Amedeo Modigliani são irmãs
gêmeas de máscaras do Mali e da Nigéria. As guarnições dos signos dos tapetes
tradicionais do Mali serviram de modelo para os grafismos de Paul Klee. Algumas
das talhas estilizadas do Congo e do Quênia, feitas muito antes do nascimento
de Alberto Giacometti, poderiam passar por obras suas em qualquer museu do
mundo e ninguém se daria conta. Poder-se-ia fazer um joguinho de diferenças – e
seria muito difícil identificá-las – entre o óleo de Marx Ernest, “Cabeça de
Homem”, e a escultura em madeira da Costa do Marfim “Cabeça de um cavaleiro”,
que pertence a uma coleção particular de Nova York. A “Luz da lua numa rajada
de vento”, de Alexandre Calder, traz um rosto que é “clone” de uma máscara
“luba” do Congo, pertencente ao museu de Seattle.
*Eduardo Galeano in. “De pernas pro ar: a escola
do mundo ao avesso”. Ed. l&pm, 2011, pp.75-76.