Mais proveitoso que discutir o malfadado anúncio do fim do livro é entender o passado da história editorial brasileira à luz do seu contexto. Felizmente o assunto vem crescendo em interesse. Na última década foram editadas inúmeras obras com enfoque na trajetória de casas publicadoras, perfil de editores e tópicos afins. Bibliografia relevante, num país de curta memória.
No entanto, há de se admitir, parte considerável dos trabalhos costuma ficar circunscrita ao levantamento alcançado, sem se lançar em maiores voos. Enxerga-se o particular, deixando em segundo plano o escopo geral. Na qualidade de produto cultural, porém, o livro faz parte de um mecanismo simbólico amplo e que serve de espelho à sociedade.
Pode-se mesmo afirmar que uma das maneiras de se conhecer uma nação é pela história de suas publicações. Quanto mais atrasado for o grupo social, tanto mais o comércio da edição se desenvolve aos trancos e barrancos.
No caso brasileiro não foi diferente. Afinal, acumulamos um passado de domínio colonial asfixiante e contamos com menos de dois séculos de história para construir uma cultura letrada.
Então, podemos perguntar: de que maneira a cultura do livro participou no processo de formação da identidade nacional? Como se deu o florescimento do nosso mercado editorial? Duas obras lançadas recentemente podem ser lidas de modo complementar e permitem uma breve reflexão sobre o tema. Para tanto, é preciso voltar aos primórdios do século 19, tal como propõe O Império dos Livros [Edusp, 448 págs., R$ 90], de Marisa Midori Deaecto, ganhadora do Prêmio Sérgio Buarque de Holanda (ABL).
A autora parte de extensa pesquisa para fornecer um retrato da presença do livro na cidade de São Paulo, ao longo do período imperial. A novidade de seu estudo está em registrar em minúcias a vida nascente da leitura num burgo distante da capital do Império, mas que servia de posto avançado para os ideais da pós-Independência.
O ponto de partida se dá com a criação da primeira Biblioteca Publica de São Paulo, em 1825. Foi concebida a partir da transformação em bem público dos acervos do Convento de São Francisco e de um bispo diocesano. Mas, logo surgiram denúncias de que vários dos exemplares haviam sido “privatizados” por pessoas influentes, como o capitão-mor da cidade.
Outro fator de estímulo para a circulação livreira se deu com a criação da Academia de Direito, em 1827. O impacto da instituição foi de tal ordem que promoveu uma verdadeira mudança psicossocial na cidade.
A partir daí, as condições objetivas favoreceram o aparecimento das primeiras gráficas e edições locais. Símbolo máximo dessa época foi a Casa Garraux, inaugurada em 1859 e especializada em artigos franceses. Nela, também eram vendidas as publicações da Garnier, principal editora brasileira e que, a partir do Rio de Janeiro, monopolizava o sistema literário.
Radiografia
O estudo de Marisa Midori é farto em informações, deixando transparecer uma radiografia em que a circulação editorial cumpre um papel ideológico específico. A autora não avança nessa tese, mas talvez seja plausível enunciá-la.
A rigor, a cultura livreira cumpre função ambígua durante o século 19 brasileiro. Por um lado, torna-se um dispositivo para difundir informação e entretenimento, contribuindo para a emancipação da camada pensante da sociedade.
De outro lado, como houve pouco interesse das classes dirigentes em promover a educação do “povo”, o livro transformou-se em instrumento de identidade social de uma elite. Mais ainda, conformou-se a esse papel.
Isso não quer dizer que a indústria editorial não apresentasse crescimento e melhoria ao longo das décadas; mas essa dinamização respondeu, em boa parte, às novidades tecnológicas e ao aumento de demanda provocado pelo crescimento demográfico e lenta ampliação de escolaridade. Como resultado, vivia-se no meio paulistano uma sociedade em que “todos os que sabem ler se conhecem”.
Com a passagem para a República, o status quo não se alterou muito em âmbito nacional. Foi preciso passar pouco mais de um século de independência para que a situação tivesse real mudança de rumo, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
Novos tempos favoreceram os ventos de uma profunda alteração no mercado editorial, tendo José Olympio como personagem central. Sua atividade é ricamente analisada em Brasilianas [Edusp, 488 págs., R$ 75], de Gustavo Sorá. Lançado em 2010, o livro até agora foi ignorado pela crítica na imprensa.
José Olympio começou a trabalhar aos 15 anos, como empregado guardador de livros na Casa Garraux, em 1918. Treze anos depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde abriu sua própria livraria e editora. Teve sucesso imediato e soube equilibrar os títulos de vendas altas com as obras de valor literário. Conseguiu como ninguém cultivar relações com escritores de esquerda e também publicava autores conservadores e oficiais.
Sorá, que é professor universitário argentino, aplica seu olhar de antropólogo sobre a trajetória que se segue aos anos 1930 e delineia, a partir da editora de J. O., um quadro bem interessante sobre os fatores que levaram a uma reconfiguração do setor no Brasil.
A partir do conceito de campo literário, criado por Pierre Bourdieu, o autor procura compreender as circunstâncias que tornaram a cultura escrita daquele momento protagonista de uma emancipação social mais profunda.
Concorrentes
Em resposta à nova ordem, houve a intensificação do consumo de livros, fazendo com que o ofício editorial se tornasse cada vez mais organizado e capaz de cobrir o território nacional. Em paralelo, ocorria uma renovação no plano da criação literária e ensaística, que ganhou alento para refletir sobre as questões nacionais.
Não por acaso, reuniu-se em torno da José Olympio um grupo de intelectuais como Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego, Gilberto Freyre e dezenas de outros nomes.
Inspirados pelos resultados de J.O., editores concorrentes seguiram-lhe os passos e estabeleceram as bases de uma nova relação entre a esfera editorial e a sociedade, no contexto do pós-guerra.
Casas publicadoras como Globo, Nacional, Martins, Brasiliense e outras deram continuidade a um processo em que a cultura letrada acabou por assumir a vanguarda de certos debates.
Com o advento da ditadura militar, em 1964, continuaram a atuar nessa linha editoras como Civilização Brasileira, Paz e Terra e Zahar, cujos lançamentos promoviam a discussão de ideias e o pensamento crítico.
Após a abertura política, na década de 1980, a indústria editorial alcança a efetiva maturidade. Editoras passam a publicar mais, ampliam os segmentos e entram na era do marketing. Assiste-se a uma visível profissionalização do setor, capitaneada por Companhia das Letras, Grupo Record e editoras escolares, entre outras.
No entanto, trazida a questão geral para os dias de hoje, saltam aos olhos certos sinais de anemia social, de que mundo do livro representa um sintoma. Deparamos com uma realidade no mínimo contraditória. De positivo, temos a abertura de megalivrarias, a farta presença de público nas bienais, o aumento de títulos publicados e a melhoria gráfica.
Ao mesmo tempo, convivemos com índices baixos de leitura, livros de preço médio alto, dependência dos programas de governo, concentração das vendas e consumo restrito a um grupo seleto de pessoas. Para complicar o “game” da nova era, o nosso “mercado” atrai cada vez mais as editoras estrangeiras.
Quanto à cultura escrita dos autores nacionais, perdeu o protagonismo e corre o risco de tornar-se apêndice da sociedade do espetáculo. Então, vale a pena lançar novamente a pergunta: que país aparece refletido no espelho de nossos livros atuais? Boa questão para, quem sabe, estimular um dos autores acima a iniciar outra pesquisa.
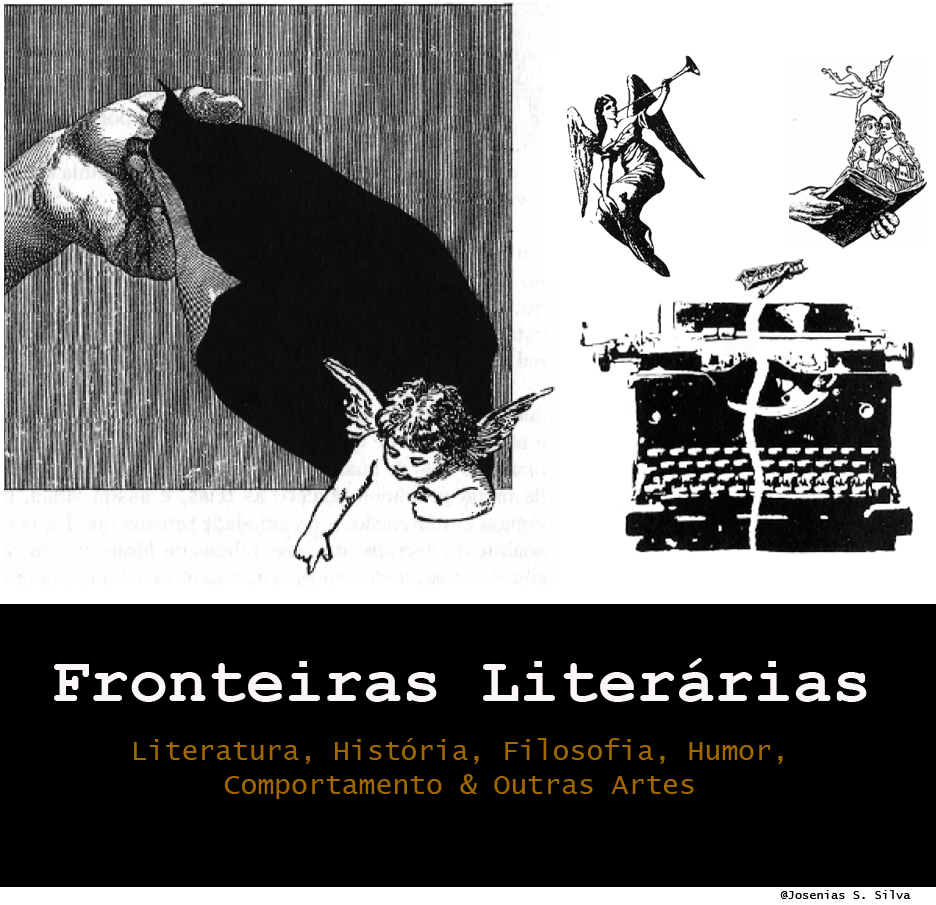










.png)


